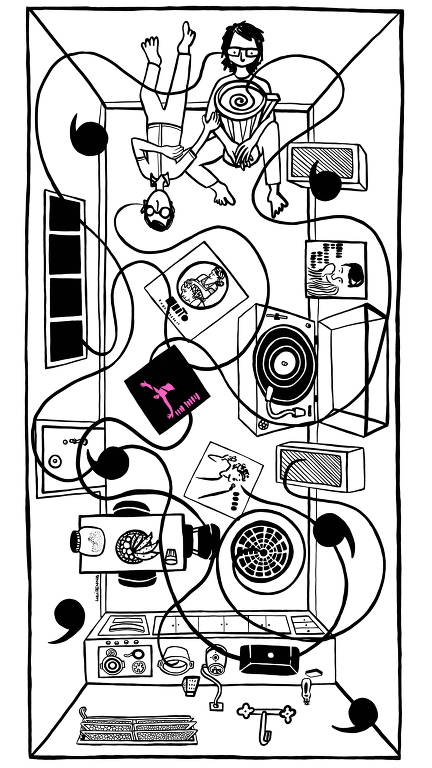ARTIGOS
Um homem
18 de maio 2022
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia
Em New Bedford, cidadezinha do interior de Massachussets, que já foi a segunda cidade mais rica dos Estados Unidos, por causa da extração do óleo de baleia, abundante por lá – a cidade é um porto, de onde partiam os barcos baleeiros no século XIX e, por isso, tem grande quantidade de portugueses e açorianos – encontrei um sebo. A cidade, hoje, é uma das mais pobres de um estado muito rico, onde ficam Boston e Harvard, só para citar alguns exemplos. Uma cidade pequeníssima, com população majoritariamente conservadora, casas de madeira pintadas de branco e muitas reminiscências de Herman Melville, que morou por lá e de Moby Dick, que também deve ter morado pelas redondezas. As principais atrações são o porto, de onde se avista o nome Nantucket, nome mítico e que nos lança para dentro de um livro, mas que está lá, à nossa frente e o fantástico Museu das Baleias, um prédio enorme, com inúmeros esqueletos de inúmeras baleias, o maior barco baleeiro em museu no mundo inteiro, memórias da época de ouro da pesca e tantas, mas tantas histórias e objetos baleísticos, que o visitante sai de lá com vontade de mergulhar, de sonhar com baleias e de sair num daqueles barcos atrás de uma aventura errante pelo mar.
Mas foi lá que encontrei um sebo, pelo qual, a princípio, não dei nada. Mas, sendo um sebo, subi. Uma entrada estreitíssima, escadas mais estreitas ainda, que davam para uma porta lateral, velha e carcomida. Dentro, prateleiras de madeira meio bambas, livros espalhados pelo chão, mas todos misteriosamente bons. Digo misteriosamente porque eles não eram de um bom óbvio, mas imprevisto. Shakespeare com Marx, James Joyce com Humboldt, livros sobre a história da pesca com mapas antigos, Modigliani com Nathaniel Hawthorne. Nada era descartável, nenhum best seller, tudo num silêncio de quem nem se importa muito em ser comprado e se satisfaz em pertencer àquele lugar, naquelas companhias.
O dono, um senhor de uns setenta anos, narigudo, com a cabeça baixa, lendo, unhas sujas, que, quando eu perguntei se ele tinha postais, apareceu com uma pilha de postais velhos e os foi visitando comigo, um por um e se surpreendendo com cada um deles, como se não os conhecesse ou às paisagens que a pilha ia descortinando. Olha, um Rembrandt, gosto muito desse pintor, você conhece? Olha, Philadelphia, faz décadas que não vou para lá. Essas conchas, como são bonitas as conchas. Selecionei seis e ele cobrou 1 dólar por todos. Dei uma nota de vinte e ele me deu o troco em dinheiro, que tirou de uma carteira gasta, transbordando de notas. Estou aqui há quarenta anos. Venho de manhã, vendo alguma coisa e às cinco volto para casa. Passo o dia lendo. Quando disse que o sebo era lindo e especial, ele me agradeceu sem ênfase, mas com uma expressão de reconhecimento tão sincera, que fiquei feliz junto com ele pelo que ele tinha construído.
De tarde, da janela do hotel, eu o vi trancando o sebo, encurvado e saindo pela rua arrastando um carrinho de feira cheio de livros. Andava pela rua como um Jonas e pensei que, provavelmente, ele dormiria dentro da boca de uma das baleias do museu, que fica a três quadras dali.
Já em Nova Iorque, no olho do furacão consumista, lembrei dele. Não vou falar a besteira esperada: esse homem dribla o capitalismo. Mas eis que sim, vou falar a besteira esperada: o tempo desse homem, como o tempo das baleias, fez uma cama na minha alma. Uma cama, um vale, um recife e me prometi lembrar dele, sempre que não tiver tempo para nada.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Um-homem
Ano grilo
21 de janeiro 2022
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia
Um ano que começa é uma cigarra. Ele, como ela, quer cantar até morrer, quer cantar inutilmente, sem pensar como ou quando canta, nem o porquê. O canto chega a ensurdecer e zumbe até parar do mesmo jeito como começou, do nada. Quando vamos ver, lá por final de fevereiro, ele está esvaziado, só a carcaça jazendo vazia em cima da mesa de cabeceira. Devagar ou rápido, depende da pessoa e das circunstâncias, o ano vai, de casca oca de cigarra, se transformando em formiga. O corpo morto e ocioso vai ressuscitando em forma de tarefas: preciso, devo, sigo, prossigo, produzo, obedeço. O que antes era labirinto sem portas, caminhos perdidos, vira caminho linear, na direção de um objetivo comum e certeiro: alimentar a rainha e contribuir para a devida construção de um formigueiro sólido e semelhante a todos os outros que estão sendo construídos perto e longe do meu. Ou melhor, do nosso.
Talvez um grilo, no meio do caminho entre uma cigarra e uma formiga, tenha ficado observando o antagonismo entre suas colegas e tenha sorrido com o canto da antena: fêmeas tontas, ou isso ou aquilo, oito ou oitenta, e tenha pensado que as coisas não precisam ser “nem tanto ao mar, nem tanto à terra”. Como no apólogo de Machado de Assis, em que, na competição entre a agulha e a linha, quem vence é o alfinete, que jaz onde o colocam, sem ansiar pela festa nem se orgulhar pelo trabalho bem feito, também o grilo parece se satisfazer com o silêncio sábio de um filósofo e se queda quieto. Talvez o grilo seja o quê, julho, novembro? Esses meses iminentes, em que nem fazemos e nem deixamos de fazer as coisas, cuja grande parte fazemos apenas porque fazemos, sem entender bem o motivo. Afinal, é preciso acordar e fazer: coisas, compromissos, tarefas, compras, cuidados, resoluções, limpezas, organizações. Tudo para, no final do dia, dormirmos satisfeitos: hoje eu fiz. E dizemos ao parceiro: hoje eu fiz. O parceiro responde: que bom, você fez.
O grilo é, também, o dia 12 ou 26 de cada mês, quando já se começou faz algum tempo ou ainda sobra um tanto para o dito final. Um dia meio rede, meio braço de sofá, que não é nem deixa de ser, quando tanto faz organizar uma planilha ou tomar três cervejas. Quem sabe os dois?
Desejo um ano que já comece em junho, terminando em setembro e que depois de setembro recomece agosto, concluindo em março. Desejo que haja mais dias 12 em cada mês. Que não se pense em começar ou terminar e que a gente possa ser uma cigarra que não morra tão logo ou uma formiga que, inopinadamente, prefira um desvio à trilha euclidiana. Que se possa fazer coisas que não servem a nada nem a ninguém e que se possa dormir sem ter “feito” nada.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Ano-grilo
Bichos medrosos e friorentos
14 de outubro 2021
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Embora seja escritora – ou talvez por isso mesmo – sempre tive dificuldades com os códigos. Posso dizer que demorei uma vida inteira, cerca de 60 anos, para aprender como, quando e, principalmente, de que forma utilizá-los de maneira equilibrada. Sempre me senti como uma exilada ou estrangeira, errando as falas, dizendo o que não devia ou no momento errado ou para a pessoa errada ou do jeito errado. Oscilava entre uma sinceridade desnecessária, que podia magoar o interlocutor; uma espontaneidade exagerada, que soava inadequada para certas circunstâncias; um uso de termos rebuscados em situações coloquiais ou o contrário e entre a maneira como me dirigia impertinentemente a pessoas importantes, com excesso de familiaridade e a famosa “cara de pau”. Sofri muito por esses deslizes e, por outro lado, também conquistei coisas inesperadas e surpreendentes. Sempre fui considerada meio louca e as pessoas com quem convivo se acostumaram – quando gostam de mim – com um jeito estabanado e “poético”. As que não gostam só reiteram sua impressão de que sou meio esquisita. Agora, aos sessenta anos, percebo que estou aprendendo melhor os truques da contenção, dos silêncios e das horas certas. É difícil, cansativo, mas bom. Tem me causado menos problemas e não preciso abrir mão do meu “gauchismo” por causa disso.
Mas nunca pude imaginar que não saberia, em absoluto, reconhecer códigos da minha língua. O que tem acontecido, nos últimos três anos, no governo desse proto- Coringa, é que a língua se rompeu: não se trata mais de um código comunicativo, informacional, estético, intelectual e afetivo. A língua, agora, é, ela também, não mais do que uma arma. Apontam-se as palavras, atira-se na direção do alvo e matam-se ou ferem-se os interlocutores. A língua se tornou violência e máscara. Pior: máscara da máscara. É como se tivessem sido extintos os trocadilhos, as ambiguidades, as metáforas, as nuances, as camadas múltiplas de significação. Na língua-espingarda, o que conta é a mira. Um mundo sem nuances é um mundo sem linguagem e um mundo sem linguagem é a morte do humano. A sensação que tenho é a de que até o fake é fake e que a metáfora se transformou em uma caixa de Pandora, de onde só saem monstros caretas e pérfidos. A possibilidade da palavra de transformar corpos e mentes, de revelar e inaugurar nomes e coisas parece ter murchado e a palavra assiste, pasma, ao poder tomar o lugar da potência.
Meus amigos e família me advertem: não é possível continuar se assombrando diariamente, se já se sabe qual é o jogo. Nada mais deveria me surpreender. Mas não adianta. Sigo pasmada, não diariamente, mas a cada hora, com mais um novo assassinato do que, para mim, significa a comunicação. Eu, sempre atrás de etimologias, sempre buscando formas possíveis de superar o vazio entre palavra e coisa, assisto incrédula ao rasgo irreversível entre ética e estética, entre origem e uso, entre significado e significante. A língua se tornou pura arbitrariedade e tudo pode ser tudo: democracia pode querer dizer ditadura, liberdade pode querer dizer prisão e verdade pode querer dizer mentira. A língua a serviço. Ela, que deve ser a fonte da não servidão.
E agora? Que códigos, que palavras nos restam? O grito, o silêncio, a continuidade da minha, da nossa busca poética? Não sei. Sei que vínculos e teias precisam ser mantidos e que o agora é mais importante do que o futuro, nesse momento. Vou pelos deslocamentos, pelos cantos e pelos furos, armando diálogos e sonhando, como Cortázar, em arrebentar a cabeça desses bichos medrosos e friorentos que moram dentro, mas principalmente fora de mim.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Bichos-medrosos-e-friorentos
Khaled
10 de setembro 2021
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Ajmal Kakar/Xinhua
Sei que Khaled é o nome mais comum em que eu poderia pensar para imaginar o nome de um garoto afegão e que você não é comum, Khaled. Mas você tem esse nome e não posso fazer nada. Não sei por que você está olhando para mim, justo para mim, tão longe, no Brasil, mas recebi seu olhar. Você não está pedindo socorro nem está desesperado. Você, inclusive, me pergunta por que eu imagino que você poderia estar desesperado, porque seu olhar, ao mesmo tempo que pede, também duvida um pouco e eu gosto da sua perplexidade algo cética.
Você cresceu muito antes do tempo, Khaled e antes de ter chegado na escola, hoje, já preparou o almoço de seus irmãos mais novos, já guardou as roupas que sua mãe tinha lavado e já acompanhou seu pai até a pedreira, ajudando a carregar os equipamentos. Diferente dos outros garotos, que prestam atenção ao professor e à lousa e diferente também dos outros poucos que olham para a câmera, você não está com medo. Só desafiadoramente curioso ou curiosamente desafiador. E pergunta: o que vocês querem nos filmando? Acham que podem nos ajudar, acham que precisamos mesmo de ajuda ou só querem brincar de criar imagens de nós?
Eu não te filmei, Khaled, só vi a foto, aqui longe, em outro dia e não me senti desafiada, mas convocada. Você quer saber o que eu penso de você e do seu país, se me preocupo com todos e especialmente com você, se tenho medo do que vai acontecer com seu futuro e se tenho críticas ao ensino no Afeganistão. Te confesso que não sei nada, Khaled e que, por isso, não acredito em minhas pretensas opiniões sobre seu país. Você me pergunta então de que vale você ter me convocado se não posso te ajudar em nada e eu me faço a mesma pergunta. Estou tão sozinha, aqui, sem saber o que fazer e sabendo que qualquer coisa que eu possa pensar sobre você é inútil, tão inútil quanto essa mesa onde não há cadernos nem livros nem lápis.
Sou professora há tantos anos, mas ainda não tinha visto esse olhar em nenhum dos meus alunos. Já vi urgência, sonho, distração e atenção, mas ainda não tinha visto o arregalo sentencioso, condescendente e carente do seu olhar. Você é bonito, Khaled, é curioso e determinado e seu desempenho é ao mesmo tempo superior e diferente do de seus colegas, que saem da escola rindo e brigando, enquanto correm de volta para casa, parando para fumar um cigarro no caminho, enquanto você caminha mais devagar, chutando uma pedra e mastigando um pão.
Não posso fazer nada por, com ou para você, mas posso prestar atenção nesse fio que você me lançou e tentar lança-lo de volta. Para quem, ainda não sei bem. Mas você me pegou e surdamente te digo que, de um jeito ou de outro, você vai resistir ao que for necessário, como as conchas resistem à água e como o sono resiste ao relógio.
Khaled, me ensine uma palavra em pashto e eu te ensino uma palavra em português. Te ensino a falar “chocolate” e você me ensina a falar “escada”.
Talvez você, na verdade, se chame Abdul, Nur ou Haffizulah. Não sei. Talvez eu mesma me chame Laura, Joana ou Clara. O tempo, senhor das coincidências e das histórias, vai se encarregar de nos dizer.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Khaled
Cula-cula
09 de junho 2021
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia
Se eu não fosse escritora, seria relojoeira. Teria um guichê pequeno numa galeria estreita de Osaka e consertaria relógios com umas ferramentinhas que eu teria desenvolvido e que seriam disputadas por concorrentes invejosos, além de lupas feitas com lentes alemãs, que eu revezaria de olho em olho. Entre meus clientes estariam reis e pastores, escritores e misses de todos os países. Eu seria muito rica e, por isso, saberia de quem cobrar e a quem franquear meus serviços. De vez em quando eu ajustaria alguns relógios propositalmente errados, porque saberia que aquela mulher precisaria acordar mais cedo para não ser demitida, ou aquele homem precisaria chegar adiantado ao encontro com a mulher que ele amava.
Ou então nada disso. Seria uma linguista e trabalharia numa universidade na Índia, em Ahmedabad, onde estudaria sânscrito antigo, estabelecendo relações entre ele e as línguas modernas do médio oriente. Esses estudos não teriam finalidade alguma, salvo serem lidos por mais três ou quatro especialistas como eu no resto do mundo, com quem eu teria encontros a cada dois anos, quando então compararíamos nossos resultados completamente inúteis e nos felicitaríamos com palavras de línguas desconhecidas, como cula-cula ou tristrotreu, fazendo reverências arcanas combinadas com gestos modernos.
Que bobagem. Eu seria botânica e pesquisaria, com base no livro “Prosa do Observatório”, do Cortázar, o ciclo misterioso das enguias e enfim descobriria onde elas se escondem antes de iniciarem sua jornada, a cada sete anos, na direção do Mar dos Sargaços, para lá se reproduzirem. Como os fósseis desses eurialinos têm mais de cem milhões de anos e coincidem com o tempo dos dinossauros, eu teria conhecido um especialista nesses animais gigantes e teria me casado com ele. À noite, sob a lareira, discutiríamos sobre coisas grandes e pequenas, como grãos de açúcar e estrelas cadentes.
Pensando bem, não. Seria uma pastora nômade tuaregue, vagueando pelo Máli, Nigéria e Burkina Fasso. Escreveria o tifinague, falaria berbere e seria uma tamajaq imuhag. Seria uma das poucas a saber escrever perfeitamente em tifinague, de cima para baixo e sem o uso das vogais, o que levaria alguns indivíduos da comunidade a duvidar de algumas interpretações de antigas inscrições fenícias. De qualquer modo, eu me congratularia com a geração mais jovem de berberes, que teria modernizado o alfabeto e não oporia resistência a mudanças que permitissem divulgar e espalhar a nossa língua e escrita. Meu rebanho de cabras sempre me acompanharia onde quer que eu fosse.
Finalmente, seria uma DJ num clube gay de Berlim. Faria mixagens de Bach com Beck e de Chopin com Velvet Underground. Os convidados das minhas festas inventariam uma dança que seria feita só com os dedos e os olhos e o resto do corpo parado. Haveria raves de 3 minutos e também de horas e horas, regadas com drinks feitos de graviola e cachaça ou de vodka e flor de sal. Sorvete seria servido o tempo todo, em taças coloridas e engraçadas.
Se eu não fosse escritora, pelo jeito, gostaria mesmo é de ser escritora, para poder inventar tudo o que eu não seria se não fosse o que sou.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Cula-cula
CAOS VIBRANTE
25 de junho 2021
Por Noemi Jaffe para Fronteiras do Pensamento
Sou uma escritora confusa. Meu processo criativo é contínuo – pensamentos, sonhos, associações, leituras, pesquisas – e, ao mesmo tempo, segmentado. Sei que isso parece contraditório, mas tem funcionado ao longo dos últimos anos, produzindo uma literatura que, na minha opinião, reflete bem esse lapso aparente entre fluxo e interrupção.
Faço muitas atividades simultâneas: escrevo literatura, sou professora de escrita, escrevo colunas e críticas e administro um espaço cultural. Não tenho como separar essas atividades e, por isso, elas acabam todas se misturando e dou aulas como se estivesse escrevendo, escrevendo colunas como se estivesse numa reunião e escrevendo livros como se estivesse dando aulas. Encontro semelhanças entre todas essas coisas e uma sempre interfere na outra, seja tematicamente ou na forma como crio. Assim, enquanto preparo uma aula, lendo um trecho de algum autor, vou reparando nas nuances dos recursos narrativos e pensando em como posso usá-los no que estou escrevendo. As conversas com os alunos sempre me abastecem de ideias e uso minha própria escrita para análise em classe, expondo-a às críticas dos escritores que frequentam as oficinas. Procuro escrever as colunas com um viés literário, assim como, cada vez mais, me interesso por eventos concretos para dar sustento à linguagem ficcional. É como uma roda ourobórica que se retroalimenta, justificando que eu não precise parar uma atividade para me dedicar à outra. Além disso tudo, também gosto muito de desenhar e de bordar, coisas que, embora sem competência alguma, vão se fazendo no tempo, que é o de que mais preciso para entender o processo de escrita, também ele feito de contornos e alinhavos.
Por isso considero que minha escrita seja contínua – porque passo os dias, semanas e meses pensando no que vou escrever, como vou escrever e por que quero continuar escrevendo, mesmo que não sente para fazê-lo. Aliás, costumo escrever nas coxas, ou seja, sentada num sofá, com o computador no colo. Vou lendo e tudo o que leio, de alguma forma, me remete ao livro que imagino desenvolver. De repente, estou fazendo uma pesquisa a respeito, anotando, fazendo fichas, começando e terminando caderninhos. Tudo é fonte: músicas, filmes, notícias e, principalmente, outras leituras.
Por outro lado, quando decido que chegou a hora de dar início ao romance, o processo contínuo que vinha de desenrolando se torna espasmódico e interrompido.
Novamente devido às coisas que não param, meu tempo de escrita é curto e eu mesma não tenho o fôlego para me dedicar muito tempo a escrever. Fico, em média, cerca de uma hora por dia nessa atividade e retomo no dia seguinte. Às vezes até menos. Uma de minhas características narrativas é que não gosto de sequências: temporais, de trama, de cronologia. Não consigo escrever e não tenho afinidade com histórias que seguem linearmente e que contam peripécias de um início até um fim. Adoro ler coisas assim nos livros de outros escritores, mas pessoalmente, não é esse o meu forte. Por isso, não suporto nem a visão de expressões do tipo “no dia seguinte”, “muito tempo depois”, “naquela manhã”.
Não sei o que veio antes: se minha dificuldade em ficar várias horas escrevendo me levou a isso ou se isso me levou a não ficar diante do computador essas várias horas. O fato é que esse tempo curto faz com que minha literatura seja, quase sempre, feita de capítulos curtos e fragmentos que, muitas vezes, podem ser lidos até autonomamente. Minha vontade é que o leitor sinta como se nada começasse nem terminasse, mas acontecesse. Que ele faça as conexões temporais que quiser e que ligue os eventos conforme sua interpretação.
Da mesma forma, quando começo um livro, tenho algumas ideias sobre o tema geral, mas quase nada sobre a forma como ele será desdobrado. Aliás, um dos motivos que mais me estimulam a escrever – e acordo de manhã ansiosa por isso – é descobrir o que, mas principalmente como, vou escrever alguma coisa. É no próprio gesto da escrita, nas palavras que uso, que vou me dando conta da história e de seu desenvolvimento. Ah, então quer dizer que a personagem é gaga? Eu não sabia. Ou então, que surpresa que a protagonista tenha resolvido fugir ou que tenha dito aquilo dessa forma. Tenho certeza que a mente em estado de escrita funciona diferente do que em outros estados e que a disposição física e mental para escrever literatura condiciona formulações semânticas e sintáticas totalmente distintas daquelas que costumamos fazer quando falamos.
Escrever é da ordem das coisas arriscadas e se a escrita não for um risco, na minha opinião, é melhor não escrever. É preciso que um escritor se arrisque inteiro no que faz: que não saiba mais do que saiba; que experimente se aventurar em formas que ainda não domina; que pesquise temas ainda estrangeiros à sua história; que fale sobre assuntos capciosos; que se entregue aos seus personagens como se eles pudessem rasgá-lo por dentro e por fora; que seu corpo e sua mente estejam ambos empenhados em buscar encontros inesperados entre si e com a escrita. Sei que essas premissas são bastante idealistas, mas, na prática cotidiana da escrita, esse processo é estranhamente plausível e, de qualquer forma, se a literatura não esbarrar em torno de algum sonho ou ideal, fica difícil entender por que exercê-la. “O poema deve ser como a nódoa no brim: fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero”, Manuel Bandeira disse num poema e quem sou eu para negá-lo? Acontece que, para desesperar o leitor satisfeito de si é necessário também sujar-se e nenhum livro que confirme ou reproduza as coisas como elas são vai conseguir desesperar alguém.
Faz parte dessa ideia de risco uma noção que Tim Ingold, antropólogo inglês, desenvolveu ao refletir sobre caminhadas, prática que também é parceira da escrita: o caminhante nômade, segundo ele, é não somente aquele que se coloca como sujeito do que vê, escuta e testemunha ao longo de suas trilhas, mas, igualmente, aquele que sabe se colocar como objeto do que presencia. Ele se permite vagar sem saber para onde, se permite ser surpreendido pelo que vê e se deixa ser visto pelos outros, pessoas e coisas, que também se surpreendem com ele. Na escrita ocorre algo semelhante: o escritor flanador deixa que seus personagens o espantem, não sabe exatamente para onde vai e se permite ser levado pelas palavras, entregando parte de sua atividade ao corpo e não somente à cabeça. Quando é o corpo, ou a mão, a conduzir a escrita, o escritor se torna parte integrante do que escreve, organicamente associado a sua criação. E não penso aqui em nenhuma possessão divina ou inspiratória, de modo algum. Como já disseram tantos outros, a inspiração não passa de uma combinação de fatores externos e internos que, no processo e no trabalho criativos, desperta novas formas e ideias. Penso, na verdade, em um escritor que sabe não ser somente sujeito, mas também objeto das circunstâncias e das palavras. Por paradoxal que possa parecer, não é a autonomia que garante a liberdade da escrita, mas um equilíbrio entre autonomia e heteronomia, em que os outros – as palavras e as coisas – interferem no escritor tanto quanto ele interfere nelas.
Sou uma escritora confusa, como disse. Mas me sinto bem nessa confusão e aprendi a gostar dela, um caos vibrante de que participo, ora no placo e ora na plateia.
https://www.fronteiras.com/artigos/caos-vibrante
Uma coisa
É assim que nos tornamos temporais, fartamente solitários e amantes incompreensíveis da solidão, incapazes, como eu sou, de compreender a história infinita
Janeiro de 2009
Por Noemi Jaffe para a Revista Piauí

Eu aprendi que qualquer coisa pode se transformar numa história interminável e infinita. A palavra tigre contém o conhecimento de um tigre, de todos os tigres, dos mamíferos, de sua história no planeta, do capim que eles comeram, dos insetos que comeram o capim – da idéia de eternidade contida nos insetos, por oposição à idéia de tempo, propriedade dos mamíferos. Será que então estaríamos condenados a não falar sob pena de que, ao dizermos qualquer palavra, estaríamos traindo a eternidade, o galope dos cavalos e tudo o que ainda não aconteceu? Ou, ao contrário, estaríamos livres para sempre dizer tudo o que quiséssemos, mesmo que aparentemente sem sentido nenhum, já que todas as palavras sempre conteriam todo o conhecimento do mundo e da humanidade? E será que então estaríamos sempre, a todo o momento, realizando o sonho da biblioteca de Babel, do livro dos livros, simplesmente ao falar, mesmo que seja “que horas são”? Tudo isso era porque eu queria contar um caso simples, que eu achei que, por ser tão simples e maternal, não teria estofo para preencher uma história. Foi então que eu lembrei que havia recentemente aprendido com meu fígado, com as coxas, com os cílios, que todas as histórias são intermináveis e contêm todas as outras que já foram, não foram, serão e não serão contadas, e então eu percebi que sim, que eu poderia contar esta história boba, porque ela conteria também as histórias que todas as mães contaram aos filhos nas casas das aldeias polonesas do século XII, e as histórias que os condenados ao calabouço pensaram antes de morrer, e as histórias que meus sucessores no futuro vão contar sobre um passado distante, quando um pio de passarinho ainda se misturava ao barulho de um motor velho de caminhão. E a história que minha filha me contou é que o pai dela um dia lhe disse que “nada é perfeito”. E ela, como era criança – e como as crianças acreditam na integridade das palavras dos adultos, porque para elas os adultos sempre dizem a verdade, sem saber que na verdade são elas, na sua crença, que são proprietárias da verdade que existe, e que consiste somente em acreditar nela e não em dizê-la, porque no momento em que você diz qualquer coisa você já está mentindo, mas não dizer e acreditar na verdade do que os outros dizem, aí é que está a verdadeira verdade –, ela, minha filha, acreditou que “nada é perfeito”. Mas como era possível que nada fosse perfeito? Se aquilo era verdade, como minha filha continuaria acreditando na verdade perfeita do que dizia o pai? Se tudo o que o pai diz é perfeito em si mesmo, independentemente do conteúdo, perfeito só na condição única de ser pronunciado por um pai, como pode então um pai dizer que “nada é perfeito”? Se essa frase é perfeita, por ter sido emitida pelo pai, o que resta do pai? E o pai, que desenha muito bem, desenhou um dos 101 Dálmatas para a minha filha. E o desenho era perfeito, idêntico ao dálmata que aparecia na figura do livro de histórias. E minha filha pensou que era impossível que nada fosse perfeito e entregou-se ao exercício de encontrar algum defeito no desenho do dálmata perfeito, porque seu pai lhe havia dito que nada é perfeito. Se ela achasse perfeito o desenho do dálmata, estaria traindo a verdade do pai. Se, respeitando-o, achasse o desenho do dálmata imperfeito, trairia então sua percepção da perfeição, seu amor à capacidade absoluta de seu pai de desenhar um dálmata perfeito.
É assim, eu imagino, e aqui fiz meu primeiro parágrafo nessa história que eu supunha interminável, mas que agora, por ter posto o parágrafo, percebi que se aproxima do fim, é assim que a credulidade se desequilibra, estremece o pomo da certeza e se transforma numa pergunta, metralhadora sagrada do medo, do sonho e da maldição. É assim, eu acho, e isso já soa como uma moral da história, mas eu não me importo nem um pouco que seja assim, porque eu não tenho nada contra morais de histórias, porque já que as histórias acabam, então que elas acabem alguma hora, e que pelo menos seja com algum pequeno ensinamento, para que a tristeza do fim de qualquer coisa e de qualquer história se carregue de alguma textura táctil e o homem que ouviu a história vá para casa pensativo e tome café e pense se ele quer mesmo trabalhar naquela noite e olhe para sua mulher que está lutando com a boca do fogão que não acende, com um carinho que voltou e logo vai desaparecer. Mas eu dizia que acho que é assim, com a instalação da dúvida como um cabo elétrico instalado por um eletricista numa criança, é assim que o tempo começa a atuar sobre o olhar curioso e o torna um pouco desconfiado. E é assim que nos tornamos temporais, fartamente solitários e amantes incompreensíveis da solidão, incapazes, como eu sou, de compreender a história infinita, o caso milenar que está a querer me contar aquele cruzamento de duas montanhas, uma mais alta e outra mais baixa, que eu vejo paradas no horizonte. Elas estão falando, ouço o eco de uma história silenciosa, que contém toda a verdade do tempo, das histórias, das palavras e do silêncio. Mas eu não consigo ouvir.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/uma-coisa/
Nem vivos nem mortos
Os campos de concentração são a fome; mais do que tudo é ela a determinante de todos os outros acontecimentos, belos ou horríveis
Setembro de 2012
Por Noemi Jaffe para a Revista Piauí

Em abril de 1945, a Cruz Vermelha chegou até as proximidades do campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, e libertou os prisioneiros que ainda se encontravam ali. Entre eles estava minha mãe, que já tinha passado por Auschwitz e outras localidades, então com 19 anos de idade. Ela fora capturada um ano antes, na cidadezinha de Szenta, onde morava, na fronteira entre a Hungria e a atual Sérvia. A Cruz Vermelha, após libertá-los, levou os prisioneiros para Malmö, na Suécia, onde eles permaneceram em quarentena. Lá, com suas três primas, que sobreviveram aos campos de concentração, principalmente por terem conseguido trabalhar na cozinha, ela escreveu um diário de guerra. Nele, procura reconstituir suas lembranças mais importantes, desde a captura até a libertação, narrando os acontecimentos como se estivesse registrando-os no momento, ou imediatamente depois de sua ocorrência. Daí algumas imprecisões cronológicas e factuais, que decidi manter para ser fiel à escrita original. Atualmente, o diário se encontra no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Em fevereiro de 2009, eu e minha filha Leda fizemos uma viagem até a Alemanha e Polônia (Varsóvia, Cracóvia e Auschwitz), tentando reconstituir parte do trajeto de minha mãe durante a guerra. O resultado dessa viagem é o livro O que os Cegos Estão Sonhando?, a ser publicado em outubro, com a edição integral do diário de LIWIA JAFFE, atualmente com 85 anos, e um misto de memórias, reflexões e ficção escritas por mim, além de um depoimento final de Leda. Parte desse livro aparece pela primeira vez aqui.
SENTA, [1] 25 DE ABRIL DE 1944_Todos à minha volta, assim como eu, estamos tristes. Sabemos o que está acontecendo e também o que acontecerá. Meu pai está sentado no sofá, durante a manhã toda, calado, fitando o nada. Por vezes, olha-nos e fecha os olhos tristes. Minha mãe nos consola: não acredita no mal, porém está arrumando as malas, faz doces e suspira fundo, sem que ninguém possa ver.
Meu irmão e eu observávamos e, sendo duas crianças, saímos para chorar. Ninguém nos conta nada, mas sabemos o que está acontecendo. Sabíamos que no dia seguinte, às 8 horas, os alemães viriam nos buscar e nos arrancar de nosso lar.
26 DE ABRIL_Levantamo-nos bem cedo. Tudo estava arrumado. Chegaram na hora certa! Eram sete.
Um deles sentou-se junto à mesa e começou a escrever. O segundo olhou as nossas coisas e deu uma ordem:
– Arrumem suas tralhas daqui a cinco minutos. São coisas para duas semanas. Levem comida e saiam da casa!
Está chovendo. Estamos juntos. Nossa família junto com as outras famílias judias. Vão nos levar para a escola judaica. Duas mulheres alemãs nos revistam, um por um, à procura de joias. Estamos dormindo no chão.
27 DE ABRIL_Às quatro da manhã nos escorraçam de um modo pior do que animais são tratados. Chove sem parar. Lama até os joelhos. Mulheres velhas e crianças pequenas choram. Os alemães batem em todos e gritam:
– Judeus sujos!
Nossos pés se colam à lama. Chegamos ao trem de carga com muita dor. Somos 65 pessoas em cada cabine. Não sabemos para onde estão nos levando. Mamãe nos abraça e engole as lágrimas. Estamos viajando o dia todo e nem pensamos em comida. Dormimos sentados do jeito que estávamos.
SZEGED, [2] 28 DE ABRIL_Chegamos às 11 horas com nossas bagagens nas costas, cansados. Andamos 5 quilômetros dentro da cidade. Horrível! Velhos e crianças choram, pedem ajuda. Em vão. Quem não andava apanhava. Jogamos fora muitas coisas para o peso ficar mais leve. Chegamos, com muita dificuldade.
Colocaram-nos, 65, num só quarto e ordenaram:
– Vocês devem deixar o local limpo! Levantar às cinco e meia da manhã e dormir às dez da noite! Escolham alguém do grupo para ser responsável pela ordem.
Queriam escolher mamãe. Ela não aceitou. Ficamos ali durante um mês. Comendo pó. Tínhamos ainda comida que havíamos trazido de casa.
19 DE MAIO_Inesperadamente nos expulsam da escola à meia-noite. Está escuro, não enxergamos nada. Gritaria. Pedimos que acendessem as luzes. Por sorte, conseguimos. Fora, esperava-nos uma carroça para carregar as nossas malas. Na estação de trem, tivemos de ficar numa fila. Dividiram os pacotes. Novamente dentro de vagões. Viajamos a noite inteira.
BAJA, [3] 20 DE MAIO_Chegamos pela manhã. Enfiaram-nos numa fábrica de móveis próxima à estação. Como éramos muitos, nos dividiram em dois grupos. Metade ficou na fábrica. A outra metade, também nós, acabou conduzida a um simples chiqueiro. Nós mesmos tivemos de limpar o lugar. Forraram o chão gelado com areia limpa. Ali ficamos por nove dias. Papai ficou muito doente, febre alta. Minha velha mãe também se resfriou, ficou fraca. Mamãe mostra-se forte, mas percebemos tudo. Ela nos olha o tempo todo e se esforça para tornar as coisas mais leves para todos nós. Diz que não lhe dói nada, não sente dificuldade alguma. Ela e papai suportariam juntos o dobro das coisas para que não sofrêssemos.
28 DE MAIO_Tivemos de formar uma fila às 9 horas. Os alemães fizeram uma contagem das pessoas. E nos levaram. Na mesma noite deixamos ‘‘nosso” chiqueiro e fomos conduzidos à estação. Setenta dentro de um vagão, com os pacotes, que foram atirados para dentro depois de termos entrado. Papai e mais alguém procuravam pôr alguma ordem ali. Arrumaram os pacotes. Cada um pôde se sentar sobre as suas próprias coisas.
Viajamos durante seis dias. Sem água, sem comida. Papai tem febre o tempo todo. Mas se faz de forte. Mamãe nos consola, nos abraça. Minha velha mãe chora. Doem-lhe as costas. Nem consegue ficar sentada mais.
AUSCHWITZ, 4 DE JUNHO_Mandaram-nos sair dos vagões sem os pacotes. Separaram homens e mulheres. Papai com meu irmão. Nós quatro numa outra fileira. Mamãe, minha priminha de 4 anos, meu primo de 8 e eu. Fila longa. Ouvimos um alemão gritar de longe: direita, esquerda… Quando chegamos mais perto, mamãe escondeu-me debaixo do casaco dela, que ela ainda possuía, esperando evitar que nos separassem.
Chegamos até o primeiro alemão. Mandou ir para a esquerda. Um outro nos examinou e nos deixou passar. Mas o terceiro ordenou que eu fosse para o lado direito. Éramos muito jovens. Eu e minha amiga Kátitza Blaier chorávamos juntas. Ela chegou depois de mim e disse que mamãe lhe gritava de longe que tomasse conta de mim.
À meia-noite entramos no campo de concentração. Caminhamos muito até chegar a um banheiro. Entramos. Dentro, estava cheio de alemães e alemãs que tiraram de nós tudo o que tínhamos ainda. Em seguida, precisamos ficar nuas e entrar num outro lugar. Havia somente mulheres ali. Cortaram os nossos cabelos. Sentia muito por meu cabelo, mas, quando pensava em meus pais, não sentia nenhuma outra dor. Tomamos um banho com água quente. Levaram-nos, molhadas ainda, para um lugar seco, onde recebemos vestidos. Era algo terrível, mas ainda assim ríamos. Uma mulher de uns 30 anos recebeu um vestido infantil curto. Tentou devolver, mas não trocaram. Algumas só recebiam uma saia sem blusa, outras só blusas sem saias. Sentia frio, nua e molhada, parada em pé ali até que chegasse a minha vez. Ganhei um vestido preto longo. Disseram-me que tenho sorte. Puseram-nos novamente em fila diante do banheiro.
Estava escuro… Era uma da manhã. Pouco mais tarde, quando os olhos se acostumaram com a escuridão, percebi que havia homens ao nosso lado. Procurava por conhecidos e então vi papai e meu irmão, que me indagavam onde estava mamãe. No momento em que tentava responder, vieram uns alemães e me levaram dali. Não se enxergava nada em volta. Havia fogo, chamas, e dava a impressão de que cada vez mais nos aproximávamos do fogo. Tínhamos medo, mas não chorávamos. Havia entre nós quem chorasse e gritasse e esses eram levados para um outro lugar, sei lá para onde. Chegamos a uma construção de madeira que chamavam de “bloco”. Mil de nós fomos enfiados nesse “bloco”. Dentro também estava escuro e ouvia-se apenas uma voz rude que ordenava gritando:
– Sente-se onde estiver!
Senti um cimento úmido. Não me sentei, ajoelhei apenas. De madrugada nos mandaram sair. Mostraram como devíamos ficar paradas e leram as regras de como devíamos nos comportar. Levantar diariamente às três da madrugada, ir em fila até o banheiro, voltar em fila. Ficar em fila de cinco, que era chamada de Zeltappell. [4] Às cinco, viria um alemão que faria a contagem de quantos éramos. Às seis, seria distribuído um café e, quando ouvíssemos um sino, o Zeltappell estaria encerrado. Feita a revista, de volta ao pavilhão, em filas. Ao anoitecer, às seis da tarde, seria distribuído o jantar: 200 gramas de pão, sopa e uma colher de margarina.
Ficar em pé das três às seis era horrível. Quando percebíamos que não havia um alemão por perto, nos abraçávamos para não sentir tanto frio. Mal podíamos esperar por aquela água negra e quente – café aquilo não era. Uma tarde daquelas nem consegui morder o pão. Parecia um pedaço de tijolo. De fato, era feito de pó de madeira. No primeiro dia, não comi nada. Nem no segundo. Mas, depois, precisava. Eu tinha fome.
Num campo, éramos 30 mil – trinta blocos com mil pessoas cada. Campos iguais, um ao lado do outro – havia uns vinte e, mais longe, onde nem a vista chegava, havia mais. O campo tinha 1 quilômetro de comprimento. No final, havia uma guarita. O campo era cercado por arame eletrificado. Havia oito crematórios sempre acesos. Podiam-se ver as chamas.
4 DE JULHO_Ontem chegamos ao campo C. Como já não escrevo faz um mês, escreverei sobre o passado. No começo, eu passava fome e sofria muito. Nosso pavilhão era defeituoso. Quando chovia, ficávamos molhados como se estivéssemos fora, debaixo da chuva. As camas – se posso chamá-las assim – eram apenas estruturas de madeira, umas sobre as outras, três andares, com doze pessoas em cada estrutura. Frequentemente acontecia de desabarmos. Eu queria sempre ficar no andar mais alto; não havia pó e eu sentia que tinha um pouco mais de ar. Dormíamos como sardinhas em lata. Quando começava a nos doer o lado direito, sobre o qual estávamos deitadas, precisávamos deitar para o outro lado, juntas. Em casos como este é que caíamos. Aquelas sobre as quais desabávamos gritavam de dor, claro. No dia seguinte, a punição: não recebíamos comida alguma. E isso se repetia diariamente. Certo dia, Alice, minha prima, trouxe uma batata e um pedaço de repolho. Dividimos tudo em quatro pedaços e comemos como se fosse a refeição mais deliciosa.
6 DE JULHO_À tarde, depois da revista do pavilhão, apareceu um homem com uma faixa vermelha no braço. Ele era chamado de kapo. Era o inspetor da cozinha. Escolheram mulheres fortes para a cozinha. Minhas três primas foram escolhidas entre quarenta mulheres. Eu estava fora dali naquela tarde, porque fui ver a Kátia. Quando cheguei, me contaram; fiquei desesperada; não queria me separar delas.
As quarenta escolhidas tinham de ficar fora da fila.
Chovia forte. Eu tinha uma blusa fina de véu com saia preta. Devíamos ficar em pé. Não podíamos sequer erguer as mãos. Quando terminou a revista, queria me enxugar um pouco com as mãos e, assustada, vi que não havia mais blusa em mim: se desfez com a chuva. Como não podia ficar em pé ali, nua, apanhei o minúsculo cobertor que já tínhamos e fiquei parada assim.
Eu e minhas primas decidimos não comer nada naquele dia. Trocamos a comida por roupas e, com isso, arrumamos um vestido para mim.
Depois disso pensamos que eu poderia juntar-me a elas na fila. Na manhã seguinte, saímos para a revista. Havia muitas de nós com cobertores. Eu estava no fim da fila e, no momento em que ninguém viu, joguei o cobertor e fiquei junto de minhas primas. Consegui. Logo depois, vieram fazer a contagem.
– Havia quarenta aqui, que eu contei; agora deveria ter quarenta, mas tem 41!
A alemã berrava furiosa:
– Se aquela que não tinha sido escolhida não se apresentar, todas serão punidas.
Não me apresentei. Estava pronta para o pior.
A alemã furiosa começou a selecionar de novo. Chegou a nossa vez. Sem uma palavra, separou minhas primas e parou diante de mim. Todos me consideravam criança: era pequena e sem cabelos parecia ter uns 15 anos.
– Escolhi você ontem?
– Sim, senhora.
– Mas você é pequena ainda e não precisa cozinhar.
– Certo. Mas não sou pequena. Tenho três primas e gostaria de ficar com elas.
Era furiosa, mas comigo brincava. Chegou a gostar de mim. Deixou-me ficar e dispensou outras cinco.
Recebemos roupas. Deram-me um vestido bonito.
Não tinha mais medo. Sempre ficava agora à frente das demais.
2 DE AGOSTO_Passou-se quase um mês desde que estou na cozinha. Eu me acostumei ao fato de que tínhamos tanta comida quanto precisássemos. Mas isso não bastava. Tínhamos muitos conhecidos passando fome. Não podíamos ficar vendo-os inertes. Era muito perigoso roubar, ainda que de modo organizado. Coitado daquele que fosse apanhado por um alemão! Ainda assim, começamos. Uma vez que os nossos conhecidos não estavam em nosso campo, tínhamos de entregar tudo pela cerca eletrificada. Apenas eu tinha coragem. O primeiro alemão que visse atiraria imediatamente. Minha mão não podia tocar no arame eletrificado, porque isso também era a morte. Mas eu não temia, não tinha medo da morte. Encarava tudo com frieza. Era assim todos os dias.
Anteontem, Hajnal, [5] uma de minhas primas, trouxe de novo quase 1 quilo de margarina. Alice escondeu logo entre os repolhos, com a intenção de tirar de lá de noite, antes de voltarmos ao barracão. Então, uma das garotas pediu que Alice lhe desse um pouco de margarina, porque ela não tinha nada.
Alice lhe respondeu que prestasse atenção para que ninguém a percebesse enquanto retirava a margarina. Mas apareceu uma alemã e a viu.
– O que você está fazendo?
Alice, assustada, respondeu:
– Peguei um pouco de margarina.
– Como assim?
– Bem, somos quatro irmãs… como não estamos nos sentindo bem, juntamos as nossas porções…
Esbofeteou Alice.
– Mostre-me suas irmãs!
Eu não estava lá. Em meu lugar, uma de nossas amigas se apresentou.
– Ah! São vocês!? Ficarão de joelhos até a revista, que é às 13h30. Se até lá vocês não confessarem quem roubou a margarina, vou jogar as quatro no crematório!
Alice não disse que foi Hajnal. Nem as outras falaram. Enquanto elas estavam ali, de joelhos, retornei. Contaram-me o que havia acontecido. Corri direto para dizer à alemã que eu era a culpada. Por que quatro devem pagar, se eles ficariam satisfeitos com uma só? Eu não tinha medo da morte.
Bati à porta. Entrei. Dentro estava a alemã acompanhada de um alemão.
– Por que você veio? O que você quer?
Naquele instante, eu não conseguia responder. Chorava e, em meio às lágrimas, disse:
– Soltem minhas primas. Elas não são culpadas. Eu roubei a margarina.
Ela correu até mim e me esbofeteou.
– E então você confessa isso assim? De onde você pegou a margarina? E sabe como você vai pagar por isso?
– Sei! Perdão! Vi sobre a mesa e peguei. Não faço nunca mais.
– Agora vou mostrar o que você vai receber por causa disso. Você nunca mais vai ver a luz do sol. Isso eu garanto!
Tentei implorar clemência, mas ela nem queria ouvir.
O alemão perguntou:
– Quantos anos você tem?
Claro que eu disse um ano a menos.
– Dezesseis.
– Dezesseis anos e ainda não sabe que não pode fazer isso?
Olhou a alemã e sussurrou:
– Não seja tão rígida. Você está vendo que ela ainda é jovem.
A alemã, enfurecida:
– Por que você a defende? Irei até o chefe do campo. Ele dará um jeito nela.
E saiu. Enquanto isso, ele me conduziu para fora, até um monte de tijolos. Ordenou que me ajoelhasse e que segurasse um tijolo enorme sobre a cabeça. Apanhei o tijolo, mas logo precisei colocar de volta, porque não consegui erguê-lo.
O alemão olhava meu sofrimento. E disse:
– Olhe, se você não se esforçar, ela vai voltar. Sabe o que espera por você?
Levantei o tijolo, com um esforço enorme, mas não conseguia segurar. Caiu sobre a minha cabeça. Pensei que fosse desmaiar. Mas fui forte. Lágrimas caíam de meus olhos feito chuva, não porque eu estivesse arrependida, mas de dor mesmo. Fique ali, de joelhos, por duas horas. Apareceu o alemão e disse:
– Levante-se! Entre na cozinha e continue trabalhando!
Coloquei o tijolo no chão e tentei levantar. O lugar duro em que fiquei ajoelhada machucou tanto meus joelhos que caí. Ouvi novamente a voz do alemão. Quis levantar, mas não consegui. Fiquei sentada uns dez minutos. Depois voltei para a cozinha, onde desmaiei. Minhas primas choravam; puseram compressas frias em mim; me consolaram até eu melhorar.
1º DE SETEMBRO_Tive muitas dores na perna. Já era o segundo dia assim, sem conseguir trabalhar. Pensei que nunca mais seria capaz. Mas não podia fazer nada. Aqueles para quem eu levava coisas estavam famintos. E eu tinha comida à mão. Não suportava a impossibilidade de lhes levar.
* * *
5 DE ABRIL DE 1945_Não estamos nem vivos nem mortos. De 120, sobraram cinquenta. Estamos entre Bendorf e o campo de Bergen-Belsen. Estamos perto de Hamburgo, mas não há como viajar daqui para a frente. Os aviões nos sobrevoam o tempo todo; os homens nos consolam e dizem que a libertação está próxima. Mas não acreditamos. Já tenho dificuldade para falar. Pedimos ao alemão que não nos torture mais; não queremos viver mais, que nos mate. Ele também nos consola:
– Vocês e nós também, estamos todos passando fome. A libertação está próxima. Aguentem mais um pouco.
Estamos em (ilegível). Não sabemos se aguentaremos um dia mais sem comida. Faz seis dias que não comemos. Pedimos, chorando, que o alemão nos mate.
– Está bem, se a vontade de vocês é essa… Nem eu posso ficar vendo o sofrimento de vocês. À tarde, às 3 horas, posso atender ao pedido de vocês.
Agrupamo-nos em turmas de cinquenta. Aguardamos a morte por fuzilamento. São cinco horas em ponto. Os alemães estão prontos. Esperamos em pé o chefe do campo. Chegou às cinco e meia, com o rosto contente:
– Crianças, vocês estão salvas.
À noite chegarão dois caminhões de pão. Os alemães estão todos alegres e todos estão com fome. Retornamos ao vagão. Passou da meia-noite e nada de pão. Gememos em voz alta, mas as nossas vozes não podem ser ouvidas longe.
6 DE ABRIL_Todos os que não morreram estão dentro do vagão, e não estão bem conscientes. Eu também pareço embriagada; não enxergo; parece que tenho espuma na boca. Ao meio-dia chegaram os caminhões com pão. As alemãs mesmo estão cortando e distribuindo. Cada um de nós recebe meio pão com margarina. Trouxeram pão da Suécia. Novamente temos um pouco de forças. Comemos pouco, porque guardamos também para as outras mulheres. De noite, viajamos para mais longe.
Chove. Saímos do vagão. Chegamos às 6 horas. O campo não é longe da estação, mas ainda assim nos molhamos todas até chegarmos. Levaram os doentes (ilegível), nós fomos para o pavilhão. Estava quente, havia aquecimento. Ganhamos comida. Alice e Hajnal foram trabalhar na cozinha e, assim, tínhamos um pouco mais. Recebi remédio para a minha perna.
25 DE ABRIL_Depois da revista pela qual passamos, duas vezes, não retornamos ao bloco. Fomos para a estação. Não nos aguardavam vagões, mas um trem elétrico que nos levou em grupos de sessenta. Retornavam a cada hora. Pela primeira vez me senti semelhante a um ser humano. Dentro do trem, pudemos sentar em assentos forrados. Às cinco, chegamos a Hamburgo. O campo também é próximo à estação. Ali recebemos cada uma um prato de sopa de beterraba. Comemos tudo. No pavilhão, novamente, somos muitas numa cama. Tive sorte: éramos em oito.
HAMBURGO, 28 DE ABRIL_Chove muito há dois dias. Temos uma alemã que nos bate muito; temos medo. Ouvimos secretamente que estão perto de Hamburgo e que, em breve, sairemos daqui também. Pensamos de novo em vagões e fome.
29 DE ABRIL_Uma alemã chegou ao pavilhão e nos expulsou. Ainda chovia. Saímos do campo em filas. Vemos um soldado alemão diante dos portões com uma cruz vermelha. Estamos diante de vagões. Vagões solitários fechados. Palha dentro do vagão. Diante dos vagões, a Wehrmacht e os SS. [6] Não sabíamos o que aquilo poderia significar. Coisas boas não poderíamos suspeitar. Eu queria comer e minhas primas estavam com medo. Gizika dizia o tempo todo:
– Crianças, economizemos o pão, porque não sabemos durante quanto tempo não teremos mais.
PADBORG, [7] 10 DE MAIO_Atravessamos a fronteira alemã. Estamos na Dinamarca. O alemão saltou do trem e gritou:
– Hitler morreu! O trabalho está concluído.
Enfermeiras dinamarquesas, com uniformes brancos da Cruz Vermelha, vêm nos retirar dos vagões. Oferecem doces. Atiram-nos flores e nos levam de ônibus, cinquenta de cada vez. Chegamos a uma propriedade rural. Discursaram para nós. Que não nos aborreçamos por ter de dormir, esta noite, sobre palha. Que levemos em conta que estamos sujas. Ganhamos excelentes cobertores ingleses. Como já estava escuro, não ganhamos comida. Deitamo-nos.
2 DE MAIO [8]_Um trem nos esperava na estação. Viajamos de segunda classe. Assentos de couro, grande limpeza. Dentro, enfermeiras da Cruz Vermelha distribuíram um pacote para cada um. No pacote, dois pedaços de pão branco com manteiga e queijo; dois pedaços de pão escuro com ovos e presunto, com um copo de cacau e um tablete de chocolate.
Os dinamarqueses foram à estação. Enfeitaram o trem com flores. Atiravam dentro do trem balas, chocolate, doces, e o que cada um possuía.
Durante o caminho, eles nos gritam:
– Hurra! (Viva!)
Já estamos viajando há muito tempo. Ao nosso lado, passam vagões com alemães. A enfermeira nos conta que eles estão voltando da Suécia.
COPENHAGUE, 5 DE JUNHO_Chegamos às oito da manhã em Copenhague. O trem parou diante do porto. Já nos aguardava um navio enorme de três andares. Quando saímos do trem, cada pessoa recebeu um litro de iogurte, que bebemos imediatamente, e doces. Depois, para o refeitório. No navio, entravam cinquenta por vez. Sentamo-nos em quatro a cada mesa. Vieram garçons com o cardápio.
– O que desejam?
Não conseguíamos ter palavras. A enfermeira percebeu isso e fez o pedido por nós.
Café com leite quente, flocos de aveia, pão com manteiga e depois bolo.
O mar é lindo. Verde-escuro, transparente. As gaivotas esvoaçam e eu observo tudo, como num sonho. Liberdade maravilhosa. Não há mais cerca elétrica, ninguém nos vigia, comida quanto desejássemos.
Fico imóvel no convés do navio, vejo como as gaivotas brincam, como o mar balança em ondas. Sinto uma alegria até o fundo de minha alma, e as lágrimas escorrem feito chuva. Como minha querida mãe ficaria contente se estivesse comigo. Papai talvez esteja em casa com meu irmão, mas e mamãe? É possível que nunca mais a veja. Sinto a liberdade maravilhosa e sinto saudades de meus pais. Minhas primas me consolam.
Às oito da noite chegamos ao porto sueco de Malmö. Quando o navio aportou, começaram a estourar fogos de artifício festivos. Os habitantes de Malmö estavam quase todos ali. De repente, um profundo silêncio. O ministro do rei veio fazer um discurso em sueco e em alemão. Depois entoaram o hino, outro foguetório, e nos aplaudiram com muita alegria.
– Hurra! Viva! Viva!
Isso durou quase meia hora.
Nós que estávamos no navio derramávamos lágrimas de felicidade. Nos recebem assim, a nós, que há oito dias ainda estávamos sendo espancados, cuspidos, como os mais selvagens dos selvagens – não podia ser verdade. Chorávamos, tínhamos todos o mesmo sentimento. Os suecos perceberam e alguns choravam conosco. Consolavam-nos, não entendíamos o que diziam, mas sentíamos que eles nos consolavam.
Depois vieram cônsules de vários países e cantaram seus hinos conosco. Primeiro, o holandês, porque havia mais deles. A seguir, os tchecoslovacos, os húngaros, e, depois, nós, os iugoslavos. Ainda havia um cônsul do rei iugoslavo, e cantamos Боже правде, [9] nós que não tínhamos nada a ver com política. [10]
Descemos do navio em seguida. Um ônibus nos aguardava. Diante dele, nos deram chocolate quente, bolos, e então tivemos de subir.
A cidade de Malmö é muito bem iluminada, parece o interior de uma casa. Andamos bastante tempo até que o ônibus parou diante de um prédio. Descemos. Era uma casa de banhos.
Primeiro tomamos um banho. Desinfetaram-nos da cabeça aos pés. Em seguida, numa outra sala, um médico nos esperava. Aquelas que estavam doentes foram imediatamente encaminhadas ao hospital. Limparam a ferida na minha perna e nos deram roupas novas. Prontas, limpas, voltamos ao ônibus.
Não andamos muito. Descemos do ônibus, dois a dois, como bons estudantes. Ficamos olhando ao redor como se nunca na vida tivéssemos visto algo bonito. No 1º andar, apenas vinte de nós num quarto. Limpeza absoluta. Flores nas janelas. Camas brancas. Ficamos imóveis em pé. Olhamos uns para os outros; todos têm a mesma expressão. Um médico está parado ali adiante e uma de nós o inquire:
– Senhor, por favor, diga quantas de nós deveremos deitar numa cama?
Pergunta risível, mas ele não sorriu. Sabia o quanto havíamos sofrido até então. Em voz baixa, e em alemão corrente, respondeu:
– Queridas crianças. Vocês estão na Suécia, em que cada ser humano tem amor igual um pelo outro. Não temos arames à nossa volta, vocês estão livres. Vocês irão se alimentar e descansar, o quanto desejarem. Esse será o vosso quarto. Há vinte camas e vocês são vinte também. Entrem e durmam bem!
FOME
No começo a gente não conseguia comer o pão, porque parecia feito de serragem. Depois, quando já sentíamos muita fome, chegávamos a esconder o pão embaixo do travesseiro, para ninguém roubar. Nós éramos quatro e a Gisie dividia o pão em quatro partes, para comermos uma porção e deixarmos as outras duas para mais tarde, porque só tinha pão uma vez por dia. A Gisie era a mais velha, ela era como a chefe de nós quatro: Alice, Hajnal, Gisie e eu.
Parece que a necessidade de comer, para quem passa fome, é mais forte do que a própria necessidade de viver. Havia muito poucos casos de suicídio nos campos de concentração, um gesto que não seria tão difícil. Era só atirar-se contra o arame eletrificado. Mas quase ninguém fazia isso; havia o próximo pão.
Viver, assim, reduz-se praticamente a comer; ou melhor, comer é mais do que viver. Depois de terminada a guerra, quando Liwia estava indo para a Suécia, levada pela Cruz Vermelha, todos lhe ofereciam comida. Chocolates, pão, guloseimas, todos jogavam comida para dentro do trem, felizes de poder alimentar aqueles que tinham passado fome. Mesmo no campo, o assunto principal era a comida, e muitos, provavelmente, sobreviveram para lembrar da comida, para conversar sobre a comida, além de simplesmente para comer. Não se comia para viver; vivia-se para comer.
Saber se relacionar com a comida, dividindo-a em várias partes, guardando-a, barganhando com ela, fazendo do pão uma moeda cara, garantia de mais um dia, para então consagrar-se à próxima busca de pão. Essa manutenção ínfima do corpo e de algum resto de astúcia permitia aos prisioneiros, à noite, durante o trabalho ou em algum momento de conversa, falar sobre outras comidas, mais sofisticadas, gesticular sobre elas e fazer de conta que elas existiam. Parece que os sonhos também eram preenchidos com comida. O corpo e a alma – Que alma? O que é a alma de um prisioneiro faminto, de qualquer pessoa faminta? A fome faz pensar que a alma é simplesmente uma invenção do corpo, para aqueles que estão abastecidos e não precisam pensar em comida – de uma pessoa com fome são uma demanda permanente por comida. Como se os humanos se tornassem parasitas, vermes enlouquecidos, girando desnecessariamente num vácuo, desesperados atrás de migalhas, não para viver, mas simplesmente para comê-las. Comer para comer.
Esse processo de animalização reforçava a ideia que os nazistas tinham de que os prisioneiros eram mesmo como animais e isso os fazia sentir ainda mais ódio, como se a animalização justificasse a perseguição. Não seria muito mais digno se matar? Por que se humilhar tanto para conseguir um pedaço de pão duro e velho? As pessoas roubavam pão umas das outras, tiravam pão de cadáveres – por quê?
Muitos israelenses condenam os judeus dos campos de concentração por não terem resistido mais e melhor; por terem se submetido tão brandamente, animalescamente, por uma ração de sopa, por um pedaço de pão. Há uma inversão e uma perversão nessas ideias. Ninguém que não esteja passando ou tenha passado fome tem a mais remota noção do que ela seja e dos efeitos que ela provoca no comportamento humano, por mais ética que a pessoa seja. Ninguém sabe se a vida ou, mais absurdamente ainda, os valores de alguém são mais importantes do que comer, quando não se tem comida. Da parte dos nazistas, sua tática consistia em transformar os efeitos da carência de tudo – a fome, a sede, o frio, a sujeira – em causa; como se tudo estivesse acontecendo porque os judeus fossem originalmente como animais, e não o contrário. Essa é a formação básica do processo de alienação: trocar os efeitos pelas causas.
Nas páginas do diário de Liwia, como nas de vários outros sobreviventes, fala-se muito de comida. Um nabo, uma fatia de maçã, cascas de batata, metade de uma ração de sopa congelada e infectada, um resto de manteiga, tudo é motivo para viver mais um dia, e a vida, nessas condições, é um dia. Ela conta das batatas podres que comeu, dando muita risada. Comíamos batatas podres como se fosse ouro! Nunca comi nada tão gostoso. Sabe, quando a gente tem fome, tudo parece bom!
Talvez fosse por isso que ela transformava várias comidas, durante a nossa infância, em brincadeira. Tinha as salsichas cortadas em pedacinhos e montadas sobre bolinhas de pão preto, espetadas com um palito de dente: eram os soldadinhos. Tinha o frango cozido no centro do prato, cercado de arroz e o molho esbranquiçado nas bordas: era a ilha. Os bolinhos de massa de batata recheados de geleia e, com os restos da massa, umas tirinhas, que eram as cobrinhas. Os ovos com espinafre; a sopa de pêssego e claras de neve; o sorvete de café no canudinho. O goulash, o cholent, que ela ficava preparando durante toda a noite, acordando duas vezes para mexer na panela. Carne, ovos, batata e feijão branco, tudo misturado. Comida de quem não tem o que comer e, misturando tudo, inventa um prato que acaba sendo incorporado à culinária. O bife de contrafilé, passado só na manteiga, sem bater e frito na chapa. Os jantares de sexta-feira, quando vinham a avó e seu irmão, o tio Artur. Jantares caprichados, com entrada, prato principal e sobremesa. Ela nunca foi muito esmerada na cozinha, nem nunca soube fazer muitos pratos, mas dominava perfeitamente aqueles que fazia. E os bolos de Yom Kippur: rocambole de chocolate, com o chocolate respingando quente; rocambole de nozes. Macarrão com geleia no forno. Ela parece ter mais prazer em ver os outros comerem do que em comer propriamente. Come muito pouco e nunca gostou de restaurantes. Sempre quer dividir as porções e não se conforma com os pratos individuais.
Toda a estratégia nazista de liquidação, de extermínio radical, além do assassinato direto, consistia em produzir fome. A fome é a pior privação, a mais bestial de todas, e era ela que sustentava todo o processo paranoico e de extermínio da identidade humana e cultural dos prisioneiros. Não se tratava somente da dificuldade material e logística de enviar todos para as câmaras de gás; era uma etapa necessária do trabalho de diluição do homem no homem. Os campos de concentração são a fome; mais do que tudo é ela a determinante de todos os outros acontecimentos, belos ou horríveis.
PALAVRA
Mãe, se você precisar se lembrar de alguma palavra que diziam no campo, qual seria? Achtung e Zeltappell. Só me lembro dessas duas. Mas você não se lembra de mais nenhuma palavra? Não, não me lembro, não. Só isso que você quer saber?
A filha fica irritada. Como é possível ela não se lembrar de mais nenhuma palavra, se passou onze meses no campo? Nem palavras dos oficiais, nem dos outros prisioneiros, nem as que ela mesma deve ter pensado? Por que não se lembra de palavras, se não existe nada mais importante do que elas? E ela ainda pergunta se é só isso que a filha quer saber. Como se fosse pouco.
Liwia tem vergonha de que o diário que ela escreveu na Suécia seja publicado, porque acha que não tem estilo literário nenhum e sabe que o texto da filha vai ser carregado de estilo. Não há como comparar, a mãe pensa. Como aquele diário tão simples, tão sem palavras, poderá aparecer junto com as impressões da filha, que se preocupa tanto com a forma como as coisas são ditas? Ela não entende que é justamente isso o que a filha procura. Tem vergonha, eventualmente, das palavras de que se lembra. Não são palavras à altura dos pensamentos complexos da filha.
Como será para ela ter uma filha que se ocupa de palavras? Será que isso a faz se sentir mais envergonhada, orgulhosa, medrosa ou será que foram justamente as palavras e as não palavras dela que fizeram a filha escolhê-las para viver? Afinal, a filha está tentando dizer o que ela não quis, não pode dizer. A filha sabe e a mãe autoriza que essas palavras sejam ditas agora, da maneira que a filha quiser. Como ela poderá escolher as palavras das quais a mãe não se lembra? A filha fantasia: se tivesse estado lá, se lembraria de tantas coisas. Outra licença indevida, como tantas que acontecem nesse sequestro e apropriação das palavras da mãe. É preciso roubar um pouco da vida do pai, da mãe, para conseguir sustentar sua sobrevivência. Ter estado onde eles estiveram, em seu lugar, é uma fantasia ridícula, mas inevitável. É um capricho, uma veleidade, mas é também uma redenção. O desejo de salvar um pouco o sofrimento já vivido.
Achtung significa atenção. Zeltappell significa chamada. Atenção, ao menos em português, é um chamado para que alguém seja mais cuidadoso, olhe mais em redor, fique mais concentrado, mas também é o cuidado que se tem para com alguém, um olhar mais demorado, alguma forma de carinho. Mas em alemão, não. Achtung, em alemão e nessas condições, quer dizer: é proibido! Não faça isso! Uma falsa advertência. Um disfarce, como se dizendo: se você fizer isso, será punido. Mas que diferença isso faz, se, mesmo não fazendo aquilo, o prisioneiro também será punido? Para que prestar atenção? Para que advertir? Como é difícil entender a lógica do medo que se instala na linguagem, o porquê da linguagem recrudescer um medo que está além e aquém dela. Como se ela fosse um anteparo: se o soldado não disser Achtung, quem sabe o prisioneiro não poderá se sentir mais tranquilo? Mas, se ele disser, é melhor se precaver.
A filha não entende nada. Como ela reagiria diante de um Achtung que, na verdade, não quer dizer nada? A filha não aguenta palavras que não querem dizer nada. Fica escarafunchando o significado de cada placa de trânsito; apoia-se na etimologia de cada coisa para entendê-la melhor, esmiuçá-la até transformá-la em alguma possibilidade de poesia.
O Zeltappell era a chamada que os nazistas faziam várias vezes por dia, com o pretexto de verificar se todos os números batiam, se os prisioneiros da manhã eram os mesmos da noite, se ninguém havia sumido, fugido, adoecido, dormido, morrido.
Atenção e chamada foram as duas únicas palavras que sobraram na memória dela, de onze meses de terror. Como se o campo tivesse sido uma sala de aula. Atenção para a chamada.
Se a filha precisasse se lembrar de algumas palavras que simbolizam sua mãe, diria “que que fala quê?” – que é o que ela diz quando quer se lembrar de algum assunto que esqueceu. É sua maneira de dizer: “O que eu queria falar?” “Premiera”, que é o seu jeito de dizer “primeira”. “Volan”, que é “volante”. “Que tem novidade?”, no lugar de “Tem alguma novidade?”. No news, good news. “Não tem importância” e “Que que tem?”. Ela transforma várias palavras e perguntas do dia a dia em música. Se alguém diz que quer comer, ela canta: “Comer, comer, é o melhor para poder crescer!” Até hoje ela não aprendeu a falar o xingamento “Vai tomar banho”. Diz assim: “Vai tomando banho.” Sempre que alguém a fechava no trânsito, era isso o que ela dizia, enquanto ainda dirigia: “Vai tomando banho.” É o pior xingamento que ela consegue dirigir a alguém.
Nos últimos anos, ela tem, cada vez mais, ficado em silêncio. Nas reuniões familiares, o que ela mais faz é ficar olhando; um pouco para o vazio, um pouco para as pessoas. Às vezes ela solta um: “Tudo isso saiu de mim!”
No casamento da neta, era inevitável vê-la embaixo da chupá [11] e pensar: ela saiu da guerra e agora está ali, vendo a neta se casar no Brasil. Onde a história foi parar? Como os caminhos foram percorridos? Qual será a sensação de ter estado lá e agora estar aqui? Qual é o percurso estabelecido pela memória que passa por essas duas coisas? A impressão que dá, quando ela queda silenciosa, é que algo assim deve estar passando, mesmo que em silêncio, por sua cabeça. Olhos que veem, mais do que palavras que possam dizer este pequeno absurdo que é essa mudança de destino. Como é possível uma só vida encerrar duas possibilidades tão distintas? Que palavras poderiam dizer isso? Achtung e Zeltappell? Onde foram parar estas palavras, agora? Em que boca elas estão, por quem elas estão sendo ditas, que palavras podemos dizer nós, que palavras ela pode lembrar, tanto quanto aquelas que ela esqueceu?
Quais são as palavras que ela esqueceu?
Um dia, ao telefone, ela, que gosta de ficar imaginando situações, perguntou à filha: “Filha, o que os cegos estão sonhando?” De início, a filha não entendeu. Parecia tratar-se de cegos específicos em uma situação específica e que aqueles cegos estariam sonhando alguma coisa naquele instante. Ela acrescentou: “Sim! O que eles estão sonhando, se não enxergam? Como podem ver imagens nos sonhos?” Então a filha entendeu e se lembrou de que a mãe confunde os usos do presente simples e do presente contínuo. “O que os cegos estão sonhando?”, na verdade, é “O que os cegos sonham?”. Mas, de uma forma inesperada e subitamente bela, aquela frase, em sua suspensão do tempo, em seu deslocamento gramatical e semântico e em seu significado autônomo, como que independente de qualquer lógica narrativa, sintetiza exatamente o estar no mundo da mãe. Como se ela estivesse fincada no presente contínuo, num eterno vir a ser, maravilhada com as possibilidades do mundo e da natureza. Houve a guerra, houve o exílio, o sofrimento, tudo. Mas esse passado, que houve e que não é negado, mas esquecido, se mistura, em sua memória, a uma disposição perene para o presente, sem o domínio perfeito da gramática, mas como uma apropriação deslocada, em que a percepção das coisas importa mais do que as coisas mesmo.
[1] Senta, cidade na província sérvia chamada Vojvodina (pronuncia-se “vóivodina”), às margens do rio Tisa.
[2] Szeged, a terceira maior cidade da Hungria, ao sul do país, próxima à fronteira com a Sérvia.
[3] Baja (pronuncia-se “báia”) é um vilarejo na Hungria, a 150 quilômetros ao sul de Budapeste. Fica ao norte da fronteira entre Hungria, Croácia e Sérvia.
[4] Revista de pavilhão.
[5] Hajnal (pronuncia-se “cainal”) é um nome húngaro.
[6] Nome das Forças Armadas da Alemanha nazista, entre 1935 e 1945. As Waffen-SS eram o braço do esquadrão de proteção do Partido Nazista, que reunia as polícias secreta e política.
[7] Pequena cidade da Dinamarca, na fronteira com a Alemanha.
[8] A data correta seria 2 de junho.
[9] Pronuncia-se “boje pravde” – são as primeiras palavras dos versos do hino nacional da Sérvia: Ó, Deus da justiça.
[10] Alusão ao fato de que o regime monárquico da dinastia dos Karadjordjević foi derrubado por Tito, que proclamou a República e instaurou um regime socialista unipartidário, com o fim da Segunda Guerra Mundial.
[11]Espécie de tenda sob a qual se realiza o casamento judaico.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/nem-vivos-nem-mortos/
Os ponteiros do relógio
Um poeta à espera da polícia
Janeiro de 2020
Por Noemi Jaffe para Revista Piauí

Anna Akhmátova estava com a roupa errada para a temperatura de Moscou e, além disso, também irritada, porque, desajeitado como sempre, seu filho não tinha conseguido encontrá-la na estação. E não era só por isso, mas porque ela preferia que Osip[1] fosse buscá-la e que eles então viessem de lá até nossa casa contando piadas idiotas um para o outro. Sabe por que os judeus têm nariz grande? Porque o ar é de graça. Ou: um rato começa a correr loucamente e outro rato, correndo atrás dele, pergunta, por que você está nessa correria? E aí ele responde que ouviu dizer que os camelos vão ser castrados. Mas você não é um camelo! Está certo, então tente provar isso para a polícia! Ela era apressada enquanto Osip era lento e um tentava convencer o outro de que a sua velocidade era a mais certa.
Mas, naquele dia, o clima não comportava muitas piadas e, enquanto esperávamos por algo que fatalmente iria acontecer, sem entender exatamente o porquê, nem como, nem quando, Osip saiu à procura de alguma coisa para oferecer a Anna. Ela nem fazia questão de nada, mas para Osip era essencial manter a dignidade de um anfitrião. Talvez os costumes nos salvassem de nos transformarmos em bestas e, de qualquer forma, era bom sair atrás de algo, em vez de ficar parado em casa aguardando a polícia. Não tínhamos absolutamente nada na cozinha, nem um pepino ou uma batata, luxos de que não sentíamos mais falta.
Osip voltou carregando um único ovo, que segurava com cuidado e caprichosamente, um bibelô de porcelana. O ovo ficou lá, parado, depois que eu o cozi por alguns minutos na água. Descascado e quieto. Anna não tocou nele, nem eu, nem Osip. Parecia bom somente tê-lo por perto e poder observá-lo, branco como uma bola de neve, naquele calor de Moscou.
Nós três sentados no santuário – o nome que dávamos à nossa cozinha – parados, esperando o inevitável, que poderia vir naquele dia ou no dia seguinte, mas que viria, e o ovo junto, como se esperasse conosco, pactuando da nossa angústia. Nessas horas, nunca sei se o melhor é que a desgraça chegue logo ou que demore. Talvez eu prefira que a polícia chegue depressa, diga a que veio, vasculhe, torture e dê seus motivos falsos ou verdadeiros e depois parta, dando um intervalo mais longo para a próxima investida, apesar de nunca sabermos se, daquela vez, Osip seria levado para sempre ou por alguns dias.
Quem sabe até Anna pudesse ser levada. Mesmo assim, ela ainda vinha à nossa casa. Não era uma forma de masoquismo nem a prova de uma amizade fiel, que arrisca a própria vida para ficar junto de nós. Não. Era só a vontade de estar perto, sem motivo claro. Isso e pronto. O mesmo que faríamos com ela, sem pestanejar, sem pensarmos nas nossas vidas, a coisa menos importante nessa hora. O importante mesmo era que eles não encontrassem o que buscavam: o poema sobre o georgiano imbecil, que, aliás, eles nunca encontrariam, porque Osip nunca o escreveu em lugar nenhum.[2] Mas pode ser que não encontrar fosse ainda pior, porque nesse caso todo o resto se tornaria suspeito, todos os versos que eles jamais entenderiam seriam indícios de contravenção, todas as metáforas obscuras seriam alusões ao regime e nossa casa se transformaria num foco de perseguição.
O certo era que Osip tinha sido denunciado, que já tínhamos percebido a presença de espiões por toda a parte, sempre pessimamente disfarçados. Não sei por que eles ainda se preocupavam em se disfarçar, já que distinguíamos um espia só de olhá-lo de relance. Vizinhos que vinham se oferecer para nos ajudar sem motivo nenhum; porteiros que surgiam da noite para o dia e ficavam lendo o jornal com os olhos vidrados em nós; poetas desconhecidos que apareciam em casa, jurando amor a Osip e que ficavam horas recitando poemas de cor, sem aceitar nenhuma de nossas indiretas para que fossem embora; eletricistas e encanadores que vinham oferecer serviços desnecessários; escritores que vinham verificar as condições de nosso apartamento, como se eles se importassem com isso; pessoas vindo averiguar nosso cupom de ração semanal, para saber se estávamos nos alimentando bem. O comportamento dessa gente era tão artificial que chegávamos a rir entre nós e até para o próprio espião, penalizados do amadorismo e do ridículo a que eram obrigados a se sujeitar. Por que aceitavam esse papel? É claro que havia os convictos, não poucos, que até deviam se oferecer para nos perseguir e que se sentiam realizados e dignos com o cumprimento fiel de sua missão cívica. Mas era perceptível, pelo mal-estar de vários deles, que a incumbência era mais uma obrigação do que outra coisa. Hesitavam, gaguejavam, olhavam para o outro lado, quase pediam para ser descobertos e para não dizermos coisas comprometedoras, para que nós os salvássemos e não o contrário. O que inclusive aconteceu algumas vezes, quando dizíamos coisas irrelevantes, só para que eles tivessem algo a reportar, mas que não nos comprometesse demais, e eles pudessem ficar quites com o governo. Nunca entendi por que aceitavam. Certamente diriam que era pela família, que não queriam correr riscos mais graves e que seriam eles os perseguidos se não aceitassem se disfarçar, mas essa desculpa nunca me convenceu completamente. Não tive filhos, por opção, então não posso dizer o que eu mesma faria se eles fossem ameaçados de morte. Talvez eu também aceitasse me tornar uma espiã. Mas existe certa pressa em ceder à pressão, parece que os espiões esperam que o regime dirija ameaças a suas famílias, para que eles prontamente possam se disfarçar e fazer o mal necessário. Ah, mas e a família, e a casa, a ração, as roupas, o sindicato? Está certo que eu faço parte daqueles que sofreram as perseguições mais duras, mas não entendo a expressão “mal necessário”. Se é mal, não é necessário, e se é necessário, não pode ser mal.
Osip tinha declamado o poema, já tínhamos contado inúmeras vezes, para apenas dez pessoas; uma das coisas mais idiotas e vaidosas que ele fez e que pode ter nos custado a vida. Certamente a dele. Como era possível que uma dessas pessoas tivesse decorado o poema, copiado e mostrado a alguém próximo a Stálin? E quem poderia ter feito isso? Mas aconteceu e agora o dia de virem nos visitar estava próximo. Podíamos sentir no ar espesso que respirávamos, no silêncio e também nos barulhos à nossa volta, nos telefonemas mudos que recebíamos, nas visitas inesperadas que ficavam e ficavam, nos olhares das pessoas na rua. Era insuportável.
Só chegaram depois da meia-noite, na hora em que tínhamos decidido dormir, nós no nosso quartinho e Anna na cozinha, espremida entre o fogareiro e o armário, sobre um amontoado de roupas que servia de colchão. O ovo parado em cima da mesa.
Muitos de uma vez, uniformes ocupando o apartamento, chapéus e botas, casacos até os joelhos, apertando, espremendo, apalpando os bolsos, as costas, as pernas, atrás de armas e bilhetes, documentos e dinheiro. Era a chamada operação noturna, propositalmente escolhida pelos agentes para que as coisas ficassem mais perigosas e eles pudessem se divertir um pouco mais, com algum possível risco de resistência, ao que eles poderiam reagir e, quem sabe, atirar, ferir e até matar. Era o que tinha acontecido com Isaac Babel,[3] já doente e desarmado, mas que mesmo assim não cedera facilmente à polícia e, por isso, tinha levado uma coronhada tão violenta que acabou ficando com um buraco na cabeça até sua morte, alguns anos mais tarde.
E lá estávamos nós, também cansados, apalermados e sem resistir a nada, também diante da chance de sermos agredidos. Anna, para nós, era até uma espécie de álibi, porque eles não poderiam desaparecer com ela ou mesmo feri-la. Ela já era conhecida em todo o país e importante demais para isso.
Eram cinco. Três policiais e duas testemunhas, que ficaram sentadas, olhando, enquanto os três oficiais se distribuíam em tarefas específicas para passar a noite inteira revistando: um no quarto, um na cozinha e outro na sala. Reviraram panelas, livros, estantes, armários, tiraram todas as roupas, rasgaram, esvaziaram caixas, espalharam toda a papelada e as gavetas pelo chão, tiraram tacos do piso e o gesso do teto, arrancaram as molduras das janelas e os batentes das portas, leram cada nome, número e série em cada pedacinho de papel, todos os poemas de cabo a rabo atrás de algo comprometedor, uma palavra ou um nome, sem entenderem nada do que liam, até perguntarem a Osip que absurdo era aquele, para ele responder: realmente, que absurdo é esse? Eu não sei de onde ele tirava a coragem para uma ironia nessa hora, mas era como se fosse algo à sua revelia; criticar era mais forte do que se proteger. O policial não entendeu a piada, graças a Deus. Sei que eu e Anna gelamos juntas, Anna sem conseguir esconder um sorrisinho bobo, nesse pacto irônico que os dois tinham contra o mundo, como se fossem conseguir mudar alguma coisa com isso. Hoje concordo com os dois. É preciso manter alguma irracionalidade, alguma infantilidade quando você está sendo perseguido sem explicação. Não é possível ficar pensando estrategicamente ou manter a seriedade ou o desespero o tempo todo. Tínhamos formas de acreditar que a normalidade era possível e, entre eles dois, espirituosos e sardônicos, o humor fazia o papel de sanidade e até de sobrevivência. Se não mantivessem o riso diante do absurdo, cederiam a ele e perderiam a pouca força que tinham, Osip cardíaco e Anna viúva e com um filho preso.
Sem encontrarem o que buscavam, ficavam tentando encontrar metáforas em tudo: é-me querida a escolha livre/dos meus cuidados, dores e mágoas. O que ele queria dizer com isso e por acaso alguém o estava proibindo de sentir suas próprias dores? Osip suspirava.
Sentados, observávamos o movimento, pensando se levariam Osip com eles, e se, querendo ser mais inteligentes do que eram, tentariam interpretar alguma frase de forma fatal e então iríamos todos para a polícia ou direto para algum pelotão de fuzilamento. Nisso, Anna se lembrou do ovo, ainda inteiro na mesa que eu tinha montado sobre o fogareiro da cozinha. Estendeu-o a Osip, junto com o saleiro, milagrosamente cheio. Osip nem se importou de oferecê-lo de volta, de dizer que ele tinha buscado o ovo para que ela comesse; com cuidado e lento, como se estivesse em algum restaurante, salgou o ovo e pôs-se a comê-lo. Nós acompanhamos aquele momento juntas, praticamente mastigando o ovo com ele, aproveitando cada segundo como se fosse a eternidade, a brancura nos salvando instantaneamente da morte; a lentidão, do horror.
Os documentos entregues, Osip partiu com eles, a manhã clara na janela.
***
Depois da primeira tentativa de suicídio, Osip tinha certeza de que viriam matá-lo a qualquer momento no hospital. Em alguns dias, esse “qualquer momento” deixava de ser indeterminado e ganhava hora certa. O delírio era preciso, tanto quanto a obsessão, tão convincente que chegava até a nos convencer, a mim e a Natasha, a enfermeira em Cherdyn, no hospital onde ele passou quase duas semanas. Ele sabia perfeitamente quem era inofensivo, como os camponeses que circulavam pelos corredores, e quem era suspeito, quem eram os “outros”. A escolha parecia aleatória, mas ele tinha um sistema rígido de seleção, análise e decisão, que não compartilhava conosco. Ele apenas sabia. Os camponeses, tendo sido transportados sem segurança nem cuidados, perambulavam por todos os lados, cheios de escaras abertas e barbas enormes, e Natasha chegou a dizer que daria sua vida por eles, o que imediatamente fez com que Osip e eu passássemos a confiar cegamente nela. Ela me recomendou botas forradas para o inverno e que nós plantássemos algo, porque haveria carência de comida. Piada, já que nem que eu tivesse dinheiro conseguiria as tais das botas e, como nem tínhamos conseguido uma banheira para dormir, pensar em plantar batatas ou repolhos era risível.
Eu não acreditava mais que o delírio de Osip pudesse diminuir, muito menos terminar. No meio de um afastamento tão grande da realidade, é impossível imaginar que um dia as coisas vão voltar a ser como eram antes. Não vou usar a palavra “normal”, porque é a última palavra que eu poderia pronunciar. Mas imaginar que voltaríamos a, não sei, tomar chá, conversar sobre Stravinski ou tentar falar ao telefone com Aleksei e então reclamar do péssimo serviço de telefonia.
Achava que nunca mais ele sairia do hospital ou que nunca mais deixaria de temer qualquer pessoa que não o olhasse de frente e que eu, por isso, precisaria para sempre encontrar novas estratégias para mantê-lo vivo. No fundo, quando você vive ao lado de uma pessoa paranoica, você também é obrigado a sê-lo, porque não é mais possível enxergar as coisas simples, uma roupa, uma panela, uma galinha. Você acaba se tornando ainda mais medroso do que o doente, porque teme pelo temor dele. E é por isso que eu precisava tanto de alguém e essa pessoa era Natasha, que, não sei muito bem por quê, se apiedou de nós dois. Era magra, com o rosto de uma intelectual do século XIX, os óculos caindo no nariz, e parecia que precisava nos ajudar. Me assegurava, assim como outros exilados, que Osip ficaria bem, que seu delírio era esperado para quem passou pela polícia.
O aprendizado era: “Não espere nada e esteja pronta para qualquer coisa.” Assim seria possível manter-me lúcida e ajudar os outros a se manterem lúcidos também. Se posso dizer que aprendi mesmo alguma coisa que tenha valido a pena nesses anos todos, algo que eu possa ensinar para quem vem me visitar, é a não ter esperanças ou, pior ainda, a não alimentar esperanças, uma metáfora estranha que se habituaram a usar, como se a esperança tivesse fome. E ela tem mesmo.
A esperança quer engolir todos e ficam todos vivendo para alimentá-la, até que ela engorde, se torne obesa, exploda e seus cacos se espalhem por aí, para que todos fiquem catando pedacinhos, restos de esperanças engorduradas, e continuem alimentando-os e o processo nunca termine, a esperança nunca se transforme em realidade e só faça esvaziar e desnutrir quem a abastece. Talvez seja essa a razão para terem me dado esse nome ou talvez esse nome seja a razão da minha incompatibilidade com ela.[4] Mas não; foi o excesso dela que me fez detestá-la. Não esperar nada é o que de melhor alguém pode fazer contra qualquer tipo de opressão e só assim fui capaz de sobreviver a tudo.
No nosso caso, a ordem dada pelo Kremlin era “isolem mas preservem”, três palavras que me acompanham até hoje, todos os dias, em muitas situações diferentes.
Eu sempre me perguntava se isso era bom ou ruim. Significava que teríamos privilégios ou que seríamos ainda mais torturados? Eu não sabia. Podia ser uma frase enganadora, que nos manteria agarrados a uma esperança, mas que justamente por isso nos arrastaria por mais tempo, cada vez mais enfraquecidos, até que morrêssemos por conta própria, sem que o Regime tivesse que mexer uma palha para nos exterminar. Como preservar e isolar ao mesmo tempo? Era uma frase contraditória e, justamente por causa dessa ambiguidade, eu achava que ela poderia nos proteger de algo pior. Mas pessoas em condições semelhantes, e Cherdyn era um vilarejo lotado de exilados, me garantiram que ela não significava nada, além de mais uma frase para desviar o foragido de sua condição real.
Num dos delírios mais obstinados de Osip, naquela sua paranoia sistemática, ele nos garantiu que, naquele dia, a polícia viria matá-lo às seis horas da tarde. Ele alternava calma diante da morte e uma tensão enorme, chegando a gritar e gemer, pedindo que eles chegassem logo, porque ele não estava suportando esperar. Nós perguntávamos como ele sabia o horário exato e ele só dizia saber, ele sabia, era certo, eles não se enganavam, gostavam de torturar com pontualidade, não viriam de manhã justamente para deixá-lo esperando. Mas como eles o matariam? Com uma arma, é claro. Mas dentro do hospital, na frente de todos os outros? Ele não sabia tantos detalhes, se o levariam embora ou se seria lá mesmo, mas isso não tinha tanta importância.
Natasha e eu, praticamente sem combinarmos nada, entendemos que o melhor a fazer, perto do fim da tarde, era mudar os ponteiros do relógio. Como Osip não fazia ideia das horas, naquele estado de agitação, mostramos, sorrindo mas bem firmes, que já passava das sete e eles não tinham vindo. Ele nem pestanejou. Não disse que isso era proposital ou que eles estavam atrasados para torturá-lo ainda mais, e nem desconfiou que nós tivéssemos alterado as horas. Não imaginou um conluio entre nós duas. Simplesmente aceitou, se acalmou e disse que tinha se enganado. Isso o ajudou a se curar mais rápido e a se dar conta do delírio.
Essa mentira infantil e necessária criou um vínculo que eu poderia até chamar de amoroso entre nós. Um acerto silencioso, em que nós duas concordávamos que ficar caladas era o melhor que podíamos fazer por ele e uma pela outra.
A enfermeira foi presa e levada para Kolimá, certamente pela ajuda abnegada que prestava a todos. Era uma pessoa rara, visivelmente intelectualizada, mas nem um pouco menos livre por isso, como acontecia com tantos intelectuais que conheci, que se desculpavam de sua inação medrosa com sua erudição e alto conhecimento de filosofia. No final, seu destino foi ainda pior do que o nosso, pois tudo o que ela fazia era ajudar os perseguidos, sem ter feito nada para merecer uma acusação. No campo de refugiados ela contou a história do relógio em detalhes para uma amiga escritora que, depois de vinte anos presa, voltou à sua cidade, onde recebeu um apartamento no mesmo prédio de Anna Akhmátova, onde, por acaso, eu a encontrei e onde ela, ainda por acaso, me contou a história que a enfermeira tinha contado a ela. A da mudança dos ponteiros do relógio. Natasha morreu doente no campo.
Mudamos os ponteiros do relógio e, algum tempo depois, ela morreu. Eu estou viva, fiquei sabendo dessa história por acaso – coincidências, aqui na Rússia, nunca são exatamente coincidências – e estou o tempo todo ainda tentando mudar os ponteiros. Não tenho mais relógios grandes como aquele do hospital, não consigo alterar as máquinas dos relógios de pulso ou de mesa, mas sigo tentando. De alguma forma, essa história ter voltado até mim, ela ter contado tudo a uma companheira de prisão, mostrando o quanto essa brincadeira tinha sido importante para ela, é também um jeito de continuar mudando os ponteiros. As histórias que voltam e vão, agarrando-se sozinhas às pessoas, precisando conti-nuar, circulando pelo mundo em versões diferentes, é isso que garante que o tempo passe ou não passe e que eu continue aqui, contando coisas que não dependem tanto de mim, mas sim eu delas.
Osip se foi e a enfermeira também, mas eu não. Ou o contrário. Eu é que parti e eles continuam aqui, porque minha presença desse lado da morte é ouvir as histórias sobre eles que chegam até mim e então contá-las. Eles ficam, eu desapareço. Não sei quem está e quem não, manipulo o tempo o tempo todo para que eu também não enlouqueça.
Trecho do livro O Que Ela Sussurra, a ser lançado em março pela Companhia das Letras.
[1] Osip Mandelstam, poeta russo que viveu entre 1891 e 1938. Foi amigo da também poeta Anna Akhmátova e marido da escritora Nadezhda Mandelstam, que narra este texto.
[2] Osip Mandelstam criou um poema contra Josef Stálin e o declamou somente para algumas pessoas, sem jamais tê-lo escrito.
[3] Jornalista e escritor russo, que morreu em 1940, aos 45 anos.
[4] Nadezhda, o prenome da narradora, significa “esperança” em russo.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/os-ponteiros-do-relogio/
Uma mulher comum
8 de julho de 2021
Noemi Jaffe para Quatro Cinco Um

A escritora britânica Virginia Woolf
Diário 1: 1915-1918
Trad. Ana Carolina Mesquita
Existe Virginia Woolf e existe a mitologia em torno dela, o que nos impede a aproximação a uma mulher e escritora real, que, além de viver e escrever grandes cenas, também vivenciou coisas comezinhas e sem encanto. É necessário conhecer os seus aspectos comuns para que se faça uma leitura precisa de sua obra, o que deve importar mais do que detalhes mais ou menos apetitosos de sua biografia.
Os diários de Woolf, escritos ao longo de 44 anos, de 1897 — quando ainda era adolescente — até 1941, alguns dias antes de sua morte por suicídio, foram publicados pela primeira vez em 1953, mas de forma editada por seu marido, Leonard. Somente quase trinta anos mais tarde foi realizada uma edição integral do conteúdo desses diários, entre 1977 e 1984, pela esposa do sobrinho de Woolf, a pesquisadora Anne Olivier Bell. No Brasil, apenas agora temos acesso à versão completa do primeiro volume dos diários, de 1915 a 1918, caprichosamente publicada pela editora Nós, com tradução de Ana Carolina Mesquita.
Ler os diários de uma escritora axial para o século 20 lentamente nos apresenta à gênese de sua escritura
Se o que importa para a compreensão da obra de uma autora do estatuto de Woolf é deter-se sobre seus livros, qual o interesse em ler seus diários? Diários em que ela relata seus passeios, o clima, suas idas ao clube ou à cidade, o aluguel de uma casa, os problemas com as criadas e os comentários incessantes sobre os convidados que o casal recebia. Seria para, em meio a essas atividades tão rotineiras, encontrar momentos sublimes, confissões inesperadas, algo que revele os segredos de sua literatura? Se for essa a intenção, o leitor vai se frustrar.
Antes de tudo, ler os diários de uma escritora axial para o século 20 lentamente nos apresenta à gênese de sua escritura. A forma como ela se dedica a descrever as paisagens, por exemplo, com extrema atenção e apuro até poético, em muito antecipa a importância que esse elemento vai adquirir em sua obra posterior. “Há certo ar estrangeiro numa cidade que se ergue contra o poente & por onde se chega por uma trilha bastante percorrida que atravessa um campo” é uma frase de seu diário do início de 1915. Ouvimos ressoar aí a atmosfera esfumaçada e também ondeante de sua prosa futura, além da combinação muito presente de cidade e natureza. Quanto às inúmeras visitas descritas e, o que é mais curioso, a sua simultânea repulsa e necessidade delas, vê-se a configuração lenta do papel fundamental que os vários “convidados” adquirem em obras como Mrs. Dalloway e Ao farol.
Banalidades
O fato de o diário testemunhar as banalidades e os problemas do início do século 20 nos habitua a uma mulher comum e retira um pouco a capa de mitologia que insiste em recobrir tantas interpretações de obras da autora como antecipações ou justificativas para o seu suicídio. Como se tudo concorresse para isso. Mas não. São jantares com o economista John Maynard Keynes, conversas com Katherine Mansfield, idas ao clube para tomar chá, compras para a casa, o trabalho difícil, mas amoroso com a prensa — a vida de uma dona de casa, esposa, irmã, diretora de um clube de mulheres sufragistas e escritora. Se não é a coisa mais típica do mundo, tampouco difere muito da vida de algumas de suas amigas.
Para leitores mais atentos, a justaposição de duas frases escritas em 15 de janeiro de 1915 remete à ironia finíssima pela qual ela se tornou conhecida, mas também a certo nonsense programático, em que se insinua uma crítica subliminar ao status quo: “Neste exato momento, sinto como se a raça humana não tivesse nenhuma personalidade — como se perseguisse o nada, acreditasse no nada, & combatesse apenas por um monótono senso de dever. Hoje comecei a tratar meu calo, há uma semana precisava fazê-lo”. Como não lembrar, aqui, da frase de Kafka “Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde”, escrita, coincidentemente ou não, em 1914? A Primeira Guerra Mundial, em meio à qual Woolf escreveu esses diários, avisava diariamente sua presença através de aviões, alarmes e bombardeios.
O dia em a autora britânica se disfarçou de príncipe abissínio
Mesmo com dificuldades financeiras, o casal compra o equipamento necessário para a impressão artesanal e própria de livros, formando a editora Hogarth Press. Woolf passa tardes inteiras imprimindo, encadernando (ela mesma encadernou seus diários), colando e encapando exemplares dos livros de Katherine Mansfield — com quem ela mantinha uma relação de admiração e antipatia —, de T. S. Eliot e, finalmente, de livros de sua autoria, cujas boas vendas e críticas estimularam o aumento da produção e a consolidação da editora.
O fato do diário testemunhar as banalidades e os problemas do início do século 20 nos habitua a uma mulher comum e retira um pouco a capa de mitologia que insiste em recobrir tantas interpretações
Outra face saborosa dos diários são as imagens comparativas que a autora utiliza para descrever as pessoas, muitas vezes de forma zombeteira, mas sempre com um humor até inesperado. Mesmo assim, a verve é reconhecível e antecipa tanto seus ensaios como sua habilidade na criação de metáforas: “A semelhança de Gerald com um cachorro pug superalimentado & mimado aumentou imensamente”; “De alguma maneira a aparência dele me lembra uma bota excelente, marrom, extremamente lustrosa e experiente”; e a mais chocante “Considerando a desimportância delas, [as criadas] deviam ser comparadas a moscas no olho, pelo desconforto que são capazes de causar, apesar de tão pequenas”. Sim, Virginia Woolf, como muitas mulheres da época, mesmo as mais progressistas, também dependia das criadas e, como tantas outras, também sabia tratá-las bem ou mal. Mas não se deve julgá-la anacronicamente nem, por isso, deixar de considerar suas tendências feministas que, nesses diários, aparecem no cargo que ela ocupa como diretora de uma guilda de mulheres.
Em tradução precisa, fluente e com a curiosidade de ter mantido os “&” originais, os diários mostram uma mulher dos 33 aos 35 anos, em meio a uma guerra, enfrentando racionamento e carestia, caminhando obsessivamente pelos bosques, jardins e pela cidade, cozinhando e recebendo, imprimindo e escrevendo. Uma mulher que reconhecemos pelo que sabemos de seu futuro, mas que, por seu passado, nos franqueia generosamente as portas para o que virá.
Virginia Woolf observa que guerrear tem sido um hábito dos homens
https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/literatura/uma-mulher-comum
Mulher chora a pandemia ao som de Marina Lima
17 de outubro de 2020
Por Noemi Jaffe no caderno Ilustríssima
Foi quando ouviu “de um liquidificador” que ela chorou. Com “beija-flor” e com “terra” não tinha ainda nem sinal de lágrima e foi no tempo entre a Marina Lima cantar um verso e outro que ela chorou a pandemia. O liquidificador era ela e ela tinha engravidado da morte da mãe, da tentativa de suicídio do amigo e das vírgulas que ela era obrigada a colocar nessa frase. Estar grávida era “dar conta” e, no choro, veio conseguir dar conta de tudo e uma vontade de por favor não conseguir dar conta de nada e veio o amor e o sexo feito não feito e as comidas que ela tinha cozinhado e as que ela não tinha, a culpa e a vergonha que ela sentia por sentir culpa. A Marina era a voz tremida de rebeldia serena, o rock opaco “e vou parir um terremoto, uma locomotiva a vapor, um corredor”. Ela chorava os meses, os produtos de limpeza, um verbo mal conjugado, uma rima toante. Ela não gritava, só soluçava meio baixo e as lágrimas iam manchando a blusa dela e o braço do namorado, que a apertava forte. Ela não pensou na letra “esperando um furacão, um fio de cabelo, uma bolha de sabão”. Só agora, enquanto escrevia sobre a música e o choro, foi que ela pensou que “esperar” é estar grávida e ela entendeu que chorou a espera, a espera dela e a de todos, mesmo sem ter sido autorizada a chorar por eles. Ela estava grávida da Marina Lima e do seu próprio soluço, estava grávida de brasil, estava grávida das letras minúsculas e do horror, do leblon e das cotas raciais, das armas e das igrejas, do nome que ela não conseguia pronunciar de tanto ódio, dos amigos desabraçados e das discordâncias com a filha, do instagram e da torta com farinha de grão de bico, do livro que ela tinha lançado e das vontades de fazer sucesso, da derrota e da Anne Carson, dos alunos e do dinheiro. Ela estava grávida, esperando um palhaço, uma acrobata, um leão amestrado que pula dentro de círculos de fogo, uma bailarina que monta sobre um cavalo dócil e que, do nada, dá um coice no diretor do circo. Na música tinha um saxofone fazendo piruetas e era um saxofone desses de fazer chorar, justo antes da Marina cantar “quando a noite contrair e quando o sol dilatar vou dar a luz”. E ela nem lembrou, só agora, escrevendo, que dar a luz pode ser escrito com crase ou sem e que com crase ela entrega a criança à luz e que sem crase ela oferta a própria luz ao mundo. Ela foi a Marina depois que a música acabou e então se levantou da cama enxugando as lágrimas e dançou sem alarde pela casa imitando aquela voz e fez o gesto da guitarra e depois do saxofone e o namorado riu um pouco e ela desceu as escadas até a cozinha e pegou um copo d’água porque fazia muito calor e amanhã, amanhã ela
L de Lá
07 de março de 2011
Por Noemi Jaffe para Revista Serrote
Minha mãe, que é húngara, quando fala comigo ao telefone e diz que vem até minha casa, fala assim: “Estou indo pra lá”. Ela, no Brasil há 60 anos, não conseguiu aprender a especificidade do termo “aí”, o que a faria dizer: “Estou indo aí”. Ai é o aqui do outro: um advérbio muito sofisticado e bem brasileiro, de difícil apreensão por um falante não nativo. Portadores do aqui do eu e do aqui do outro, para nós o “lá” fica reservado para usos e significados que considero, de forma chauvinista, mais amplos e poéticos do que, por exemplo, o there ou o là do francês, que estranhamente também é “aqui”. Ao lá, em português, dispensado de ser o aqui do outro, ficou reservada uma distância que é, e ao mesmo tempo não é, indicativa. Lá pode ser um lugar determinado, mas também é, simultaneamente e sempre, um lugar incerto, todo ou nenhum lugar, uma distância física e imaginária, um lugar solto e sozinho no espaço e também no tempo. Afinal, se lá não fosse também uma indicação de tempo, por que dizemos “até lá”, referindo-nos a uma data? Porque lá é, misteriosamente, um lugar no espaço e no tempo. É lá – para onde as coisas vão e de onde as coisas vêm, e ao dizer “até lá” é como se pudéssemos finalmente, como promessa e como cumprimento, por uma vez, alcançá-las. Quando chega o momento de cumprir o “até lá”, quando aquele lá vira agora e aqui, estranhamente o lá permanece intacto, uma fonte inexaurível que não cessa de se distanciar. Se não fosse assim, por que então, em vez de simplesmente dizer “não sei”, dizemos, muito mais enfaticamente: “Sei lá”? “Sei lá” é não sei e não quero saber. É uma declaração de que meu interesse pelo assunto está lá e de lá não vai sair. Foi para lá; portanto, não vai voltar. O contrário disso, entretanto, é a expressão linda “lá vou eu”, indicando, agora sim, um desejo potente e confiante de, nesse caso, ir para lá. “Lá vou eu” é ofr enentamento de um desafio, é um aqui e agora carregado de lá, portanto mais nobre e temerário. A própria inversão da frase – lá vou eu, em vez de “eu vou lá” – já empresta nobreza e coragem ao sujeito que lá vai. É como um “seja o que Deus quiser” laico, cujo resultado é, no mínimo, engrandecedor. Quem diz e realiza a promessa do “lá vou eu” pode dizer que esteve lá. Gertrude Stein, enriquecendo a pobreza do inglês, pelo menos nesse sentido, diz que não ficaria nos Estados Unidos, porque “there is no there there”. É verdade. O inglês, forçado ao pragmatismo, perdeu o sentido longínquo e incognoscível de um there maciço, inexpugnável. There se tornou simplesmente o contrário de here, deixando de compreender a beleza de uma expressão como there is, para querer dizer somente “há”. Em português, felizmente, além do “há”, também mantivemos o “lá está”. Penso que uma tradução totalmente não literal, mas de alguma forma fiel a “there is no there there”, poderia ser “lá lá lá”, não só porque ela mantém os três “lás”, mas principalmente porque ela diz, de forma bem brasileira, que aqui ainda há lá. Talvez seja porque lá é também uma nota musical. Sempre me lembro da tradução da canção do filme A noviça rebelde, em que ela ensinava aos filhos do sr. Von Trapp as notas musicais. Para o lá, em português, a letra dizia: “Lá é bem longe daqui”. Em inglês é “a note to follow so”. Quero que lá seja para sempre bem longe daqui e que fique mantido naquele lugar que está perfeitamente traduzido na piada dos dois caipiras, que veem pela terceira vez um elefante voando bem alto no céu, em direção ao leste, e então um deles diz: “Acho que o ninho deles é pra lá”.
https://www.revistaserrote.com.br/2011/07/l-de-la-noemi-jaffe/
Caos vibrante
25 de Junho de 2021
Por Noemi Jaffe no site Fronteiras do Pensamento
Considerações sobre meu processo criativo
Sou uma escritora confusa. Meu processo criativo é contínuo – pensamentos, sonhos, associações, leituras, pesquisas – e, ao mesmo tempo, segmentado. Sei que isso parece contraditório, mas tem funcionado ao longo dos últimos anos, produzindo uma literatura que, na minha opinião, reflete bem esse lapso aparente entre fluxo e interrupção.
Faço muitas atividades simultâneas: escrevo literatura, sou professora de escrita, escrevo colunas e críticas e administro um espaço cultural. Não tenho como separar essas atividades e, por isso, elas acabam todas se misturando e dou aulas como se estivesse escrevendo, escrevendo colunas como se estivesse numa reunião e escrevendo livros como se estivesse dando aulas. Encontro semelhanças entre todas essas coisas e uma sempre interfere na outra, seja tematicamente ou na forma como crio. Assim, enquanto preparo uma aula, lendo um trecho de algum autor, vou reparando nas nuances dos recursos narrativos e pensando em como posso usá-los no que estou escrevendo. As conversas com os alunos sempre me abastecem de ideias e uso minha própria escrita para análise em classe, expondo-a às críticas dos escritores que frequentam as oficinas. Procuro escrever as colunas com um viés literário, assim como, cada vez mais, me interesso por eventos concretos para dar sustento à linguagem ficcional. É como uma roda ourobórica que se retroalimenta, justificando que eu não precise parar uma atividade para me dedicar à outra. Além disso tudo, também gosto muito de desenhar e de bordar, coisas que, embora sem competência alguma, vão se fazendo no tempo, que é o de que mais preciso para entender o processo de escrita, também ele feito de contornos e alinhavos.
Por isso considero que minha escrita seja contínua – porque passo os dias, semanas e meses pensando no que vou escrever, como vou escrever e por que quero continuar escrevendo, mesmo que não sente para fazê-lo. Aliás, costumo escrever nas coxas, ou seja, sentada num sofá, com o computador no colo. Vou lendo e tudo o que leio, de alguma forma, me remete ao livro que imagino desenvolver. De repente, estou fazendo uma pesquisa a respeito, anotando, fazendo fichas, começando e terminando caderninhos. Tudo é fonte: músicas, filmes, notícias e, principalmente, outras leituras.
Por outro lado, quando decido que chegou a hora de dar início ao romance, o processo contínuo que vinha de desenrolando se torna espasmódico e interrompido.
Novamente devido às coisas que não param, meu tempo de escrita é curto e eu mesma não tenho o fôlego para me dedicar muito tempo a escrever. Fico, em média, cerca de uma hora por dia nessa atividade e retomo no dia seguinte. Às vezes até menos. Uma de minhas características narrativas é que não gosto de sequências: temporais, de trama, de cronologia. Não consigo escrever e não tenho afinidade com histórias que seguem linearmente e que contam peripécias de um início até um fim. Adoro ler coisas assim nos livros de outros escritores, mas pessoalmente, não é esse o meu forte. Por isso, não suporto nem a visão de expressões do tipo “no dia seguinte”, “muito tempo depois”, “naquela manhã”.
Não sei o que veio antes: se minha dificuldade em ficar várias horas escrevendo me levou a isso ou se isso me levou a não ficar diante do computador essas várias horas. O fato é que esse tempo curto faz com que minha literatura seja, quase sempre, feita de capítulos curtos e fragmentos que, muitas vezes, podem ser lidos até autonomamente. Minha vontade é que o leitor sinta como se nada começasse nem terminasse, mas acontecesse. Que ele faça as conexões temporais que quiser e que ligue os eventos conforme sua interpretação.
Da mesma forma, quando começo um livro, tenho algumas ideias sobre o tema geral, mas quase nada sobre a forma como ele será desdobrado. Aliás, um dos motivos que mais me estimulam a escrever – e acordo de manhã ansiosa por isso – é descobrir o que, mas principalmente como, vou escrever alguma coisa. É no próprio gesto da escrita, nas palavras que uso, que vou me dando conta da história e de seu desenvolvimento. Ah, então quer dizer que a personagem é gaga? Eu não sabia. Ou então, que surpresa que a protagonista tenha resolvido fugir ou que tenha dito aquilo dessa forma. Tenho certeza que a mente em estado de escrita funciona diferente do que em outros estados e que a disposição física e mental para escrever literatura condiciona formulações semânticas e sintáticas totalmente distintas daquelas que costumamos fazer quando falamos.
Escrever é da ordem das coisas arriscadas e se a escrita não for um risco, na minha opinião, é melhor não escrever. É preciso que um escritor se arrisque inteiro no que faz: que não saiba mais do que saiba; que experimente se aventurar em formas que ainda não domina; que pesquise temas ainda estrangeiros à sua história; que fale sobre assuntos capciosos; que se entregue aos seus personagens como se eles pudessem rasgá-lo por dentro e por fora; que seu corpo e sua mente estejam ambos empenhados em buscar encontros inesperados entre si e com a escrita. Sei que essas premissas são bastante idealistas, mas, na prática cotidiana da escrita, esse processo é estranhamente plausível e, de qualquer forma, se a literatura não esbarrar em torno de algum sonho ou ideal, fica difícil entender por que exercê-la. “O poema deve ser como a nódoa no brim: fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero”, Manuel Bandeira disse num poema e quem sou eu para negá-lo? Acontece que, para desesperar o leitor satisfeito de si é necessário também sujar-se e nenhum livro que confirme ou reproduza as coisas como elas são vai conseguir desesperar alguém.
Faz parte dessa ideia de risco uma noção que Tim Ingold, antropólogo inglês, desenvolveu ao refletir sobre caminhadas, prática que também é parceira da escrita: o caminhante nômade, segundo ele, é não somente aquele que se coloca como sujeito do que vê, escuta e testemunha ao longo de suas trilhas, mas, igualmente, aquele que sabe se colocar como objeto do que presencia. Ele se permite vagar sem saber para onde, se permite ser surpreendido pelo que vê e se deixa ser visto pelos outros, pessoas e coisas, que também se surpreendem com ele. Na escrita ocorre algo semelhante: o escritor flanador deixa que seus personagens o espantem, não sabe exatamente para onde vai e se permite ser levado pelas palavras, entregando parte de sua atividade ao corpo e não somente à cabeça. Quando é o corpo, ou a mão, a conduzir a escrita, o escritor se torna parte integrante do que escreve, organicamente associado a sua criação. E não penso aqui em nenhuma possessão divina ou inspiratória, de modo algum. Como já disseram tantos outros, a inspiração não passa de uma combinação de fatores externos e internos que, no processo e no trabalho criativos, desperta novas formas e ideias. Penso, na verdade, em um escritor que sabe não ser somente sujeito, mas também objeto das circunstâncias e das palavras. Por paradoxal que possa parecer, não é a autonomia que garante a liberdade da escrita, mas um equilíbrio entre autonomia e heteronomia, em que os outros – as palavras e as coisas – interferem no escritor tanto quanto ele interfere nelas.
Sou uma escritora confusa, como disse. Mas me sinto bem nessa confusão e aprendi a gostar dela, um caos vibrante de que participo, ora no placo e ora na plateia.
Endereço: https://www.fronteiras.com/artigos/caos-vibrante
Polpa
6 de Janeiro de 2021
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Novo, pelo uso que nos habituamos a fazer dele, costuma se opor a velho. Não é por acaso que dizemos, no ano que se inicia, feliz ano novo e adeus ano velho. Nesse adeus da expressão, significamos um subentendido já vai tarde que, aposto ao velho, carrega também este último de conotações negativas.
Mas novo, para ser bom – e o mais impensável, feliz – não precisa se opor a velho. Antes o contrário. Um ano novo que, digamos, seja como uma compota feita com frutas já não tão frescas, seria um bom ano. Colocamos os pêssegos e ameixas mais enrugadinhos e adicionamos um limão bem verde e ácido, novo, compondo assim um sabor agridoce inesperado. Cabe bem em qualquer ano que se inicia.
Ou então, pode-se pensar na ideia de um ninho, feito de gravetos caídos, fios de nylon encontrados ao acaso, restos de algum uso, folhas caídas, tudo coisa velha, com que se monta uma estrutura engenhosa e sempre única, onde vão crescer ovos novos, criando o que se costuma conhecer como feliz ano n’ovo. Aliás, ver o ovo como o viu Clarice Lispector, em O ovo e a galinha e ser capaz de espantar-se com o que já se conhece, é bem o que quero dizer com a novidade que abrindo-se, descascando-se, contém o velho e vice-versa. Tim Ingold (minha mais recente descoberta na antropologia) diferencia, em Estar Vivo, entre a surpresa e o espanto. Diz que a surpresa é matéria de contabilidade, quando algo escapa a um controle previsto. Já o espanto é de outra natureza: é possível espantar-se com uma xícara de café, com o gato que você já conhece e com um ano que se inicia. Não é necessário nada de tão espetacular para que ocorra o espanto, essa matéria-prima em extinção. Modesto Carone já disse, comentando Kafka, que o espantoso é que o espantoso não espanta mais.
É certo, entretanto, que 2020 é um ano, esse sim, que todos querem ver bem longe, à distância. Nunca vivemos um trauma coletivo tão amplo e fundo como esse, aqui no Brasil multiplicado pelo desgoverno que nos conduz ao abismo.
Mas e se, para 2021, pensássemos em um 2020 que fosse possível torcer como uma roupa molhada, espremer numa máquina de fazer suco, para dele extrair um sumo? Tipo polpa de 2020.
E o que haveria nessa polpa? Para mim, todos os filmes de Fellini e de Tarkovsky, nhoque de mandioquinha, carne de panela, a Ilíada, 2666, de Bolaño, Herzog, de Saul Bellow, aulas por zoom com gente de todo o país, minha cachorra e minha gata, poucos almoços feitos em casa com meus filhos e agregados. Para o país, algumas poucas iniciativas de fazer oposição e de se organizar para permitir que a ciência tenha a voz que deve ter, além da percepção do tamanho do mal que foi alçado à nossa liderança.
O mais provável é que muito pouca coisa mude realmente no ano novo que, na verdade, só é novo porque um novo ciclo de translação se inicia. Pandêmica e politicamente, para que haja novidades, será preciso que descasquemos 2021 com delicadeza para encontrarmos, por baixo de sua película, gomos que vêm ao menos desde 2013, com a chance de uns carocinhos nascentes.
Vamos plantá-los com espanto.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Polpa
A Samba
25 de Agosto de 2020
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Tantas coisas, ao longo dessa quarentena (cinquentena, sexagentena, inumeravelena), tem passado para o campo do indizível, que fica difícil saber o que, nesse intervalo, é possível expressar. Mas dentre todas essas coisas intraduzíveis, quero falar da Samba, minha cachorra.
Nos olhos dela me consolo. As pupilas bem no centro, mirando reto nos olhos de quem a olha, acreditam. Sem nenhum predicativo, elas acreditam. Essa confiança sem preposição e sem regência toda noite me prepara para mais um dia de confinamento. Me aproximo para dar boa noite e ela se entrega, virando-se de barriga para cima e oferecendo o corpo para que eu o acaricie. Passo minha mão por tudo e quem é acariciada sou eu: por seu pelo farto e macio, por seu abandono a minha mão. Passo os dedos fortes pelo rosto e ela fecha os olhos com agrado. O rabo, que se abanava, se aquieta e tudo nela e em volta silencia. Aproximo meu rosto do dela e ouço só a respiração, longa e tranquila, com um suspiro pesado no entremeio.
Nenhuma palavra bonita combina quando tento falar sobre ela: disse “entremeio”, mas me arrependi. Para falar dela, é como se só pudesse dizer “água”, “pão” e “casa”. Então digo: Samba água, samba pão, samba casa.
A palavra “amor” foi carregada, historicamente, de conteúdos infindáveis. Preciso esvaziá-la de todos eles para falar da Samba. Preciso da palavra “amor” sem nada dentro, como a flor de João Cabral, que é apenas a palavra flor.
Depois que ela termina de comer a ração, sabe que vou dar dois biscoitos. Ela se achega e fica me olhando, tesa e com o rabo abanando, torcendo a cabeça na direção do armário onde fica a lata de biscoitos. Quando me levanto para pegá-los, ela mal contém a euforia e excitação, eletrizando o corpo inteiro na direção da prenda. Depois que ela pega, leva para sua almofada, sua pequena casa onde tanta coisa acontece. Seu esconderijo, janela, abrigo, consolação, zona de experimentação de comida, canto. Na almofada ela se enrola e fica pequena ou se espalha e parece um bezerro. Quando olho para ela, estendida no chão, às vezes me lembro de uma cadeia de montanhas, outras de um cavalo adormecido. Ela é minha cordilheira.
Também não quero metaforizá-la. Quando digo “ela é minha cordilheira”, não quero me referir a isso como uma representação. Digo que é a cordilheira mesma, cadeia de montanhas me escorando dos medos e nojos. Todo o nojo que sinto pelo governo, pelas calamidades comezinhas, se dilui diante do tamanho dessas pupilas crédulas. Alguma coisa sempre resta além, aquém da minha mentira e da minha verdade, num lugar onde o que se diz é menor do que o que não se diz.
Quando acordo e desço as escadas para a cozinha, ela está no pé da escada, esperando, com as patas cruzadas, como uma “lady”, quando, na verdade, ela está mais para “vagabunda”. Assim que eu chego, ela pula, corre, galopa, abraça e vai na direção da porta, pegar o jornal. Por que conto isso? Todos os cachorros fazem assim. Não sei por que conto. Não sei nada do que conto, nem os porquês, quando se trata dela. Sinto que simplesmente dizer o que ela faz vai fazer com que todos reconheçam sua singularidade. Poderia escrever esse texto somente assim: a Samba come, dorme, pula, gosta de bolinha e de carinho. E fim.
A Samba e minha dificuldade de dizê-la têm sido o reverso da quarentena: ela me lança para o mundo, para o que não posso ser, para o que sou. A Samba está fora da linguagem e agradeço a ela por isso.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/A-Samba
Alma
29 de Junho de 2020 às 15:05
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Às vezes as pessoas me perguntam o que é "escrever com alma". Eu mesma também me faço essa pergunta frequentemente. Isso acontece porque também é frequente que eu leia textos que considero bem escritos, com todos os recursos bem empregados e com um domínio narrativo de grade destreza - e a palavra é mesmo essa - mas aos quais falta, o quê?, verdade, alma, necessidade, organicidade? Difícil nomear o que falta, mas, quando isso acontece, é perceptível que a destreza técnica se sobreponha a esse lastro.
Muitas vezes também me pergunto se essa sensação provém de um idealismo infantil, cuja premissa partiria de uma verdade que só pode se expressar em algum conteúdo mais profundo. Mas não é isso. Mesmo em textos que não se propõem a uma densidade reflexiva, é possível reconhecer essa unidimensionalidade, a ausência desse "quê".
Penso que, em arte, a verdade é umas das coisas mais questionáveis que existem. Se o conceito já é motivo de contradições e indefinições em filosofia, na ética e na política, na arte ele chega a beirar o absurdo, já que a arte, desde a Grécia Antiga, ao menos, sempre projetou sua própria verdade.
Mesmo assim, me arrisco a uma possibilidade de definição. Como a literatura se realiza a partir da integração entre palavra e pensamento, palavra e imagem, palavra e objeto, palavra e ideia, penso que é a coincidência entre o que se diz e como se diz - ideal de todo bom escritor - que perfaz o caminho para a chamada alma ou verdade literária. Se falo sobre a solidão de um personagem, é preciso que, de algum modo, minha linguagem seja, também ela, solitária. Se tematizo um jogo de futebol, também o ritmo, a elocução, a dinâmica da escrita deve ser "futebolística", tensa e polarizada. E se for desejo do autor que haja uma oposição entre o que se diz e como se diz - uma narrativa sobre a solidão escrita de forma eufórica, por exemplo - essa intenção deve estar clara no próprio texto, mesmo que, para isso, o leitor não precise se deter sobre ele. Ao contrário, o leitor percebe essa intencionalidade independentemente de um trabalho analítico ou interpretativo.
Um texto literário pode apresentar grande densidade narrativa, em termos temáticos, mas se ele for expresso em linguagem apenas superficial, sem camadas subjacentes, sem multiplicidade, ele se restringe ao conteúdo e fica quase acadêmico ou didático. Se, por outro lado, ele tiver grande trabalho técnico, o que chamei de destreza narrativa - muitas subordinações, rebuscamento lexical, piruetas linguísticas e descritivas - mas isso não estiver acompanhado de personagens, acontecimentos e cenas que sirvam de motivação para tanto, o texto será apenas circense.
Só é belo o que é necessariamente belo, disse uma vez Wassily Kandinsky, resumindo, com essa frase, toda a dificuldade que muita gente tem para compreender a arte moderna e contemporânea. Se a ideia unívoca de belo não faz mais sentido, como podemos defini-lo? Justamente pela necessidade. Se o leitor ou espectador encontra, no objeto artístico, uma relação de necessidade entre o que se apresenta e a forma como o objeto é apresentado, há beleza, mesmo que o resultado divirja de tudo o que já conheço como belo. Mesmo que seja feio, estranho, inquietante.
Não sei se podemos chamar isso de alma, como disse. Mas acredito que se possa chamar esse processo - tão difícil e, outras vezes, surpreendentemente fácil - de verdade literária.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Alma
B-E-I-J-O
25 de Setembro de 2019
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Não sou uma pessoa conservadora, mas não gosto do uso de "bj", "abç", "vc" e afins. O conservador é o que gosta de conservar e, nesse caso, gosto de pensar em conservar o "beijo", o "abraço" e "você", entre outros. As justificativas que me dão não convencem. Economizar tempo. Economizar o tempo de duas ou três letras? No cômputo geral, com todas as abreviações, a pessoa acaba economizando. É verdade. Pode ser que ao longo do dia inteiro teclando, ela tenha economizado uns cinco ou dez minutos nessa supressão de letras. Não me impressiona.
Costumo carregar de sentido o beijo que mando, o abraço e o você a quem me direciono. Por que reificar o sentido dessas palavras, tornando-as mais fáticas do que já são no uso corrente? Por que não dar a elas, justo elas, o toque de autenticidade de uma mensagem? Pense-se na diferença entre, por exemplo, "beijo", "um beijo", "beijinho", "beijos" e "beijão". São totalmente diferentes e mudam o teor da mensagem inteira, que se transforma instantaneamente por contaminação do tipo de beijo que se envia. O mesmo com "abraço" e suas variações. "Abração" é tão diferente de "abraço" que, por sua vez, não poderia ser mais diferente de "um abraço" ou do tão pouco utilizado "abracinho".
Fora a coincidência, que considero uma das maiores da língua, entre os sons da palavra "beijo" e o ato mesmo de beijar. Pense nos sons: b-e-i-j-o e em como eles beijam a boca de quem o enuncia. Como é bom dizer "beijo" e, com isso, oferecer, à mensagem inteira, uma carga de inutilidade e carinho, ao passo que "bj" só se adequa perfeitamente a toda a impessoalidade e pragmatismo do resto do conteúdo. Digo, por exemplo, "Joana, você esqueceu de comprar batatas no super". Se, ao final, acrescento um "bj", estou contrariada ou simplesmente dei a mensagem e não estou nem aí com a Joana. Só me preocupei com as batatas. Mas se digo "beijo", estou quase dizendo que vou eu mesma comprá-las e que é tão bonito o jeito como Joana as esquece.
Penso que a função fática é uma função, afinal. Estabelecer contato, afinar o canal. Por que tornar a função fática apenas uma reprodução vazia de automatismos cotidianos? Por que não dizer "oi", essa palavra tão linda, dando sentido, ainda que mínimo, ao "oi" que se diz. "Oi, pessoa". "Bom dia, pessoa". "Eu te desejo um bom dia".
"Vc", para mim, chega a ser desrespeitoso. Sou o "você" do outro, uma unidade mínima de estranhamento e alteridade. "Vc" me soa como uma extensão do "eu", uma mesmidão a que não quero me adequar. Passo a ser só mais um dado na praticidade geral das mensagens.
Sei que exagero. Não devia levar tão a sério essas palavras. Ninguém deixa de ser respeitoso ou carinhoso por isso. Deve ser verdade. Mas não quero sucumbir. Quero ter uma reserva mínima de conservadorismo, necessária só para o meu bem estar. Vou continuar usando "beijo", "abraço", "você" e "por que", mesmo quando até meu nome vire "Nm". Gosto das vogais.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/B-E-I-J-O
Compro seu carro, mesmo alienado
25 de Junho de 2018
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
O coração tem que se apresentar diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio, não para o silêncio astral.
Clarice Lispector foi acusada de alienação. Dizem que, como reação a essa etiqueta descabida, ela teria escrito A hora da estrela, explicitamente preocupado com aspectos sociais.
E como ficaria o trecho acima, extraído de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres? Seria, nesse caso, um exemplo de alienação? Afinal, o que teriam a ver o Nada, o próprio coração e o pequeno silêncio com causas políticas?
Em primeiro lugar, a alienação não se relaciona somente à consciência sobre problemas coletivos de ordem social, política ou econômica. A alienação, como o nome - alien - diz, é uma dependência do outro. Alienado (como os carros que ainda não tiveram os débitos quitados) é aquele que não está de posse de algo ou de si mesmo; que se encontra em estado de heteronomia, ou, melhor dizendo, sem autonomia.
E em segundo lugar, a consciência política (e social e histórica e econômica e pública e etc.) não acontece somente pela via do discurso explícito ou mesmo subliminar. Falar sobre lavar a louça e ir ao supermercado, os buracos negros e um amor perdido, o liquidificador quebrado e a fórmula de pi, a queda do filho do vizinho, a novela das 8 e o rabo da minha cachorra, o último biscoito do pacote de cream crackers e o dente que dói, dependendo da forma como se fala, pode ser mais politizado e menos alienado do que falar sobre junho de 2013 ou sobre o golpe de 2016.
Negar-se a usar a língua finalista que serve para comunicar, ou, em outras palavras, que se submete a um objetivo fora de si mesma, já é, por si mesmo, subversivo e, portanto, desalienado. E apresentar-me diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio uma taquicardia nas trevas é a linguagem e o eu se desnudando à frente do abismo, ousando dizer o que mensagens com conteúdo claro muitas vezes não sabem, mas acabam encobrindo. Quando grito "sou contra as injustiças, quero a volta da democracia, abaixo a ditadura", mascaro, talvez sem consciência, a entrega viva da minha voz e corpo ao desconhecido que nos engole. Entro numa espiral conhecida e já pisada de protestos idênticos, que, por sua repetição, me protegem.
Não adianta querer fazer literatura panfletando minhas opiniões sobre questões complexas do povo. O resultado pode ser não mais do que um manifesto passageiro ou, simplesmente, má literatura. O absurdo, o fantástico, o incompreensível, o psicológico, o subjetivo podem todos ser tão ou mais presentes, reais e agentes quanto o realista, o naturalista, o irônico e o crítico. A alienação e a desalienação não são processos fixos e absolutos, mas constantes. E é na linguagem com corpo e consistência, com experimentação e risco; é na palavra carregada de estranhamento que o leitor se desloca e se desaliena de seu lugar habitual. É ela que o desajusta e o faz perguntar, como em "O espelho", de Guimarães Rosa, "Você chegou a existir?"
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Compro-seu-carro-mesmo-alienado
Mistério desmisterioso
23 de Maio de 2018
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
É engraçado. Quando se pergunta como aprender a tocar violão, a resposta instantânea é: fazendo um curso de violão. O mesmo com desenhar ou aprender a jogar futebol. Mas, para muitos ainda, a resposta para como escrever é: só com inspiração. Como se escrever se localizasse num patamar superior ao das outras artes e práticas; como se a ideia de aprender a escrever diminuísse a própria escrita, ou, o que desconfio mais, o trabalho do escritor. Afinal, se o escritor é movido por inspiração, ou talento, ou dom, aquilo é necessário e incontornável para ele, e inacessível para os outros.
De onde vem a ideia de inspiração? De sopro e respiração. Na tradição bíblica, Deus soprou a vida em Adão, fornecendo-lhe, com isso, sua alma. As musas gregas sopram os poemas aos poetas e aos aedos, que os declamam, convocando, com sua voz e com as palavras, sua própria presença epifânica. A inspiração, nessas acepções, provém da transcendência e ao poeta nada mais cabe do que cumprir-lhe os desígnios. Os poetas românticos, como se sabe, endossaram e reforçaram essas ideias, convenientes para os localizarem em um espaço privilegiado e inalcançável pelos outros mortais: é o gênio, o asceta, o sofredor, aquele que escreve com sangue e lágrimas, cuja vida se indistingue da obra.
Mas por que isso perdurou, depois das vanguardas, da queda do gênio e do herói, da passagem da analogia para a ironia (de acordo com Octavio Paz), da consciência do poder do mercado e da reprodutibilidade de tudo?
Porque a inspiração literária tornou-se um mito e, como todo mito, preservou-se em sua inefabilidade e a escrita, promiscuamente misturada à língua que todos falamos, precisa de um lugar isolado e eleito para discriminar-se de sua "irmã vulgar". Por partilhar com a fala a banalidade do significado, a literatura se arrojou uma dimensão mais elevada.
Discordo de quase tudo que subjaz a esse pensamento. Creio que a escrita literária acontece por meio da linguagem, que, por sua vez, só se realiza na prática. Se é verdadeira a frase de Picasso "se a inspiração quiser vir, que venha, mas vai me encontrar trabalhando" (que, aliás, lembra a de Rosa, "se Deus quiser vir, que venha, mas vai me encontrar armado"), a inspiração não é mais do que aquilo que se aciona na mente e no corpo quando a vontade literária do escritor se põe a escrever, a pesquisar, a experimentar, a revisar. Depois de períodos, mais longos ou mais curtos de trabalho integrado entre circunstâncias (pessoais e coletivas), informações, memória, conhecimento, pensamento, experiências, sensações, sentimentos, ideias, intuição, imaginação, sonhos e outras coisas que nem sabemos definir, criam-se espécies de combustões instantâneas e, aí sim, misteriosas, para surgirem então aquilo que chamamos de momentos inspirados: grandes frases, ótimas ideias estruturais ou formais, pequenos detalhes reveladores, o que faltava ao personagem ou à cena, o instante em que o substantivo acha o adjetivo que lhe faltava, como no conto "O Cônego ou Metafísica do Estilo". Nesses agoras mínimos, de forma algo inexplicável, ocorre a fusão de várias faculdades mentais e quem passa a escrever não é mais a cabeça, mas a mão e o corpo assumem o exercício, suando e tremendo. É a hora do risco, em que autor e texto são o mesmo e quando a vida lá fora e lá dentro fica menor do que escrever. Concordo que aqui ocorre algo inexplicável e é bom que seja assim. Que, na confluência de trabalho, disciplina, desejo e vontade de escrever, haja aquilo que não se domina; talvez um toque de gênio, talvez um imprevisto, o acaso, algo que não esperávamos conhecer. Mas saiu, está lá, não sei porquê e é bom.
Por isso, escrever é algo que pode sim ser aprendido. O mais importante é a pessoa querer escrever, querer aprender e ler muito, de tudo, sem parar. E depois se dispor a trabalhar muito até pingar o suor. Ou correr também não pode ser uma atividade inspirada e inspiradora?
Claro que, como resultado do aprendizado, alguns vão escrever textos melhores e outros nem tanto. O certo, entretanto, é que vão escrever melhor do que sabiam e do que podiam imaginar.
E todos, sem exceção, vão conhecer o mistério desmisterioso da inspiração, esse monstro e anjo que visita apenas quem quer ser visitado.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Misterio-desmisterioso
O inconformismo e a cesta de legumes
12 de Abril de 2016
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Como curar um fanático, livro recentemente reeditado de Amós Oz, tem um título bem-humorado, pois trata o fanatismo como se fosse uma doença passível de cura. Talvez não o seja, porque, na verdade, deve ser um tipo de patologia dessas irremediáveis.
Mas, se houver possibilidade de reversão, Amós Oz propõe, no mínimo, duas receitas: o humor e a curiosidade.
Sua ideia sobre como utilizá-los para curar fanáticos está no livro.
Gostaria de desenvolvê-las, aqui, sob o ponto de vista mais específico da literatura. Claro que nem ousaria chegar a seus pés, mas, ultimamente, nós brasileiros temos tido uma experiência de convivência com o fanatismo que nenhum de nós esperava ter. Então, talvez, esse ponto de vista também possa entrar no rol das prescrições curativas.
Em primeiro lugar, a curiosidade.
Para alguém ser escritor, ou mesmo um leitor, a curiosidade e o inconformismo são imprescindíveis. É preciso perguntar-se: "por que as coisas são ou não são assim?" e, também, "como elas seriam se assim não o fossem?". Ao tentar responder essas perguntas, o que o escritor faz é criar uma nova vida. Um novo objeto vivente: a história que se conta. Ela é ficcional, mas está viva e fala da e na vida, mesmo quando inverossímil, absurda ou surreal.
Em função dessa dinâmica, digamos assim, metabólica e sanguínea, os romances e contos são muito mais concretos do que abstratos, da mesma forma como a vida sensível o é. O leitor de um romance vive o medo, a dor, as preocupações, a dificuldade de pagar a conta de água, o preconceito, a dor de corno, a velhice e a coceira na orelha que sentem os personagens. Ele vê e ouve a paisagem, o confinamento da prisão, a mulher e o homem desejados, os ruídos do caminhão de gás na China, as montanhas andinas e a sujeira de uma rua no Paquistão. E é essa vivência vicária, a vivência da vida do outro, que faz com que o horizonte interno do leitor e do escritor se ampliem, com que ele, efetivamente, conheça concretamente a compaixão, a "co-pathos", a dor do outro, não de forma teórica, mas concreta e viva.
Ora, se concordarmos que o fanatismo é uma prática quase religiosa, derivada da incapacidade de reconhecer o outro ou a perspectiva de quem pensa diferente de si, a literatura seria, ainda que involuntariamente, uma forma, a partir da curiosidade, de "curar" essa obtusidade, esse estreitamento do olhar. Se sinto em minha pele a dor por que passa um negro nos Estados Unidos de década de 50 — se não sei "sobre" a dor, mas sei "a" dor —, tenho mais chance de compreendê-la e de ajudar a combatê-la.
Em segundo lugar, o humor.
Na Grécia Antiga, mais especificamente na Poética, de Aristóteles, a comédia é considerada um gênero inferior à tragédia. A segunda teria a função catártica, purgativa, de expulsar as paixões negativas dos espectadores, por meio do modelo punitivo. Quem desafia o destino é duramente punido. Portanto, aceite o que determinam os deuses. Já à comédia restava um papel de entretenimento, saudável, mas menos elevado.
Entretanto, pode-se também dizer, agora passados mais de dois mil anos, que a comédia tem, em certa medida, um lugar, digamos assim, mais "maduro" em relação à tragédia. É como se na comédia o texto e os personagens compreendessem que o destino de todos, irremediavelmente, é fatal: a morte. Estamos todos condenados ao mesmo pó indistinto e, por isso, podemos rir da solenidade e austeridade da vida e de suas determinações fixas. Abre-se um espaço relativista, uma brecha perspectivista, porque cai por terra a bandeira do absoluto, da totalidade que paira sobre nossas cabeças. É possível rir da vida e da morte.
Rir de si mesmo pode ser um remédio para o fanatismo também. O fanático, segundo Amóz Oz, não ri. Está "tomado" pela seriedade de sua causa. Como ele se leva a sério demais, acaba por não levar o outro em consideração, porque o outro existe somente para ser descartado.
Finalmente, se o fanatismo adota a ideia de que os fins justificam os meios, e se comporta nesse sentido, em que valem quaisquer práticas para justificar uma causa última, a literatura está convencida de que são, ao contrário, os meios que justificam os fins. Ou seja, é pela prática dos caminhos, daquilo que se constrói enquanto se está construindo, que se saberá, se é que se saberá, quais são os fins. O fim é determinado pelo itinerário que se toma, sempre aberto a novas possibilidades. Ou seja, o fim e o meio acabam sempre por coincidir, como na vida, como em cada momento.
Vá até a rua. Olhe cem metros à frente. Quem você vê? É um desconhecido? O que ele está fazendo, sentindo, pensando, desejando? Tente responder essas perguntas. Se ainda assim você considerar que sua "causa" é mais importante do que essas perguntas, parabéns, você está no caminho para se tornar um fanático. Mas, se você considerar que as respostas a essas questões valem mais do que mil totalidades absolutas, que uma cesta de legumes vale mais do que o socialismo ou o capitalismo juntos, parabéns também, talvez você esteja no caminho de escrever um romance.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/O-inconformismo-e-a-cesta-de-legumes
Um homem
18 de maio 2022
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia
Em New Bedford, cidadezinha do interior de Massachussets, que já foi a segunda cidade mais rica dos Estados Unidos, por causa da extração do óleo de baleia, abundante por lá – a cidade é um porto, de onde partiam os barcos baleeiros no século XIX e, por isso, tem grande quantidade de portugueses e açorianos – encontrei um sebo. A cidade, hoje, é uma das mais pobres de um estado muito rico, onde ficam Boston e Harvard, só para citar alguns exemplos. Uma cidade pequeníssima, com população majoritariamente conservadora, casas de madeira pintadas de branco e muitas reminiscências de Herman Melville, que morou por lá e de Moby Dick, que também deve ter morado pelas redondezas. As principais atrações são o porto, de onde se avista o nome Nantucket, nome mítico e que nos lança para dentro de um livro, mas que está lá, à nossa frente e o fantástico Museu das Baleias, um prédio enorme, com inúmeros esqueletos de inúmeras baleias, o maior barco baleeiro em museu no mundo inteiro, memórias da época de ouro da pesca e tantas, mas tantas histórias e objetos baleísticos, que o visitante sai de lá com vontade de mergulhar, de sonhar com baleias e de sair num daqueles barcos atrás de uma aventura errante pelo mar.
Mas foi lá que encontrei um sebo, pelo qual, a princípio, não dei nada. Mas, sendo um sebo, subi. Uma entrada estreitíssima, escadas mais estreitas ainda, que davam para uma porta lateral, velha e carcomida. Dentro, prateleiras de madeira meio bambas, livros espalhados pelo chão, mas todos misteriosamente bons. Digo misteriosamente porque eles não eram de um bom óbvio, mas imprevisto. Shakespeare com Marx, James Joyce com Humboldt, livros sobre a história da pesca com mapas antigos, Modigliani com Nathaniel Hawthorne. Nada era descartável, nenhum best seller, tudo num silêncio de quem nem se importa muito em ser comprado e se satisfaz em pertencer àquele lugar, naquelas companhias.
O dono, um senhor de uns setenta anos, narigudo, com a cabeça baixa, lendo, unhas sujas, que, quando eu perguntei se ele tinha postais, apareceu com uma pilha de postais velhos e os foi visitando comigo, um por um e se surpreendendo com cada um deles, como se não os conhecesse ou às paisagens que a pilha ia descortinando. Olha, um Rembrandt, gosto muito desse pintor, você conhece? Olha, Philadelphia, faz décadas que não vou para lá. Essas conchas, como são bonitas as conchas. Selecionei seis e ele cobrou 1 dólar por todos. Dei uma nota de vinte e ele me deu o troco em dinheiro, que tirou de uma carteira gasta, transbordando de notas. Estou aqui há quarenta anos. Venho de manhã, vendo alguma coisa e às cinco volto para casa. Passo o dia lendo. Quando disse que o sebo era lindo e especial, ele me agradeceu sem ênfase, mas com uma expressão de reconhecimento tão sincera, que fiquei feliz junto com ele pelo que ele tinha construído.
De tarde, da janela do hotel, eu o vi trancando o sebo, encurvado e saindo pela rua arrastando um carrinho de feira cheio de livros. Andava pela rua como um Jonas e pensei que, provavelmente, ele dormiria dentro da boca de uma das baleias do museu, que fica a três quadras dali.
Já em Nova Iorque, no olho do furacão consumista, lembrei dele. Não vou falar a besteira esperada: esse homem dribla o capitalismo. Mas eis que sim, vou falar a besteira esperada: o tempo desse homem, como o tempo das baleias, fez uma cama na minha alma. Uma cama, um vale, um recife e me prometi lembrar dele, sempre que não tiver tempo para nada.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Um-homem
Ano grilo
21 de janeiro 2022
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia
Um ano que começa é uma cigarra. Ele, como ela, quer cantar até morrer, quer cantar inutilmente, sem pensar como ou quando canta, nem o porquê. O canto chega a ensurdecer e zumbe até parar do mesmo jeito como começou, do nada. Quando vamos ver, lá por final de fevereiro, ele está esvaziado, só a carcaça jazendo vazia em cima da mesa de cabeceira. Devagar ou rápido, depende da pessoa e das circunstâncias, o ano vai, de casca oca de cigarra, se transformando em formiga. O corpo morto e ocioso vai ressuscitando em forma de tarefas: preciso, devo, sigo, prossigo, produzo, obedeço. O que antes era labirinto sem portas, caminhos perdidos, vira caminho linear, na direção de um objetivo comum e certeiro: alimentar a rainha e contribuir para a devida construção de um formigueiro sólido e semelhante a todos os outros que estão sendo construídos perto e longe do meu. Ou melhor, do nosso.
Talvez um grilo, no meio do caminho entre uma cigarra e uma formiga, tenha ficado observando o antagonismo entre suas colegas e tenha sorrido com o canto da antena: fêmeas tontas, ou isso ou aquilo, oito ou oitenta, e tenha pensado que as coisas não precisam ser “nem tanto ao mar, nem tanto à terra”. Como no apólogo de Machado de Assis, em que, na competição entre a agulha e a linha, quem vence é o alfinete, que jaz onde o colocam, sem ansiar pela festa nem se orgulhar pelo trabalho bem feito, também o grilo parece se satisfazer com o silêncio sábio de um filósofo e se queda quieto. Talvez o grilo seja o quê, julho, novembro? Esses meses iminentes, em que nem fazemos e nem deixamos de fazer as coisas, cuja grande parte fazemos apenas porque fazemos, sem entender bem o motivo. Afinal, é preciso acordar e fazer: coisas, compromissos, tarefas, compras, cuidados, resoluções, limpezas, organizações. Tudo para, no final do dia, dormirmos satisfeitos: hoje eu fiz. E dizemos ao parceiro: hoje eu fiz. O parceiro responde: que bom, você fez.
O grilo é, também, o dia 12 ou 26 de cada mês, quando já se começou faz algum tempo ou ainda sobra um tanto para o dito final. Um dia meio rede, meio braço de sofá, que não é nem deixa de ser, quando tanto faz organizar uma planilha ou tomar três cervejas. Quem sabe os dois?
Desejo um ano que já comece em junho, terminando em setembro e que depois de setembro recomece agosto, concluindo em março. Desejo que haja mais dias 12 em cada mês. Que não se pense em começar ou terminar e que a gente possa ser uma cigarra que não morra tão logo ou uma formiga que, inopinadamente, prefira um desvio à trilha euclidiana. Que se possa fazer coisas que não servem a nada nem a ninguém e que se possa dormir sem ter “feito” nada.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Ano-grilo
Bichos medrosos e friorentos
14 de outubro 2021
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Embora seja escritora – ou talvez por isso mesmo – sempre tive dificuldades com os códigos. Posso dizer que demorei uma vida inteira, cerca de 60 anos, para aprender como, quando e, principalmente, de que forma utilizá-los de maneira equilibrada. Sempre me senti como uma exilada ou estrangeira, errando as falas, dizendo o que não devia ou no momento errado ou para a pessoa errada ou do jeito errado. Oscilava entre uma sinceridade desnecessária, que podia magoar o interlocutor; uma espontaneidade exagerada, que soava inadequada para certas circunstâncias; um uso de termos rebuscados em situações coloquiais ou o contrário e entre a maneira como me dirigia impertinentemente a pessoas importantes, com excesso de familiaridade e a famosa “cara de pau”. Sofri muito por esses deslizes e, por outro lado, também conquistei coisas inesperadas e surpreendentes. Sempre fui considerada meio louca e as pessoas com quem convivo se acostumaram – quando gostam de mim – com um jeito estabanado e “poético”. As que não gostam só reiteram sua impressão de que sou meio esquisita. Agora, aos sessenta anos, percebo que estou aprendendo melhor os truques da contenção, dos silêncios e das horas certas. É difícil, cansativo, mas bom. Tem me causado menos problemas e não preciso abrir mão do meu “gauchismo” por causa disso.
Mas nunca pude imaginar que não saberia, em absoluto, reconhecer códigos da minha língua. O que tem acontecido, nos últimos três anos, no governo desse proto- Coringa, é que a língua se rompeu: não se trata mais de um código comunicativo, informacional, estético, intelectual e afetivo. A língua, agora, é, ela também, não mais do que uma arma. Apontam-se as palavras, atira-se na direção do alvo e matam-se ou ferem-se os interlocutores. A língua se tornou violência e máscara. Pior: máscara da máscara. É como se tivessem sido extintos os trocadilhos, as ambiguidades, as metáforas, as nuances, as camadas múltiplas de significação. Na língua-espingarda, o que conta é a mira. Um mundo sem nuances é um mundo sem linguagem e um mundo sem linguagem é a morte do humano. A sensação que tenho é a de que até o fake é fake e que a metáfora se transformou em uma caixa de Pandora, de onde só saem monstros caretas e pérfidos. A possibilidade da palavra de transformar corpos e mentes, de revelar e inaugurar nomes e coisas parece ter murchado e a palavra assiste, pasma, ao poder tomar o lugar da potência.
Meus amigos e família me advertem: não é possível continuar se assombrando diariamente, se já se sabe qual é o jogo. Nada mais deveria me surpreender. Mas não adianta. Sigo pasmada, não diariamente, mas a cada hora, com mais um novo assassinato do que, para mim, significa a comunicação. Eu, sempre atrás de etimologias, sempre buscando formas possíveis de superar o vazio entre palavra e coisa, assisto incrédula ao rasgo irreversível entre ética e estética, entre origem e uso, entre significado e significante. A língua se tornou pura arbitrariedade e tudo pode ser tudo: democracia pode querer dizer ditadura, liberdade pode querer dizer prisão e verdade pode querer dizer mentira. A língua a serviço. Ela, que deve ser a fonte da não servidão.
E agora? Que códigos, que palavras nos restam? O grito, o silêncio, a continuidade da minha, da nossa busca poética? Não sei. Sei que vínculos e teias precisam ser mantidos e que o agora é mais importante do que o futuro, nesse momento. Vou pelos deslocamentos, pelos cantos e pelos furos, armando diálogos e sonhando, como Cortázar, em arrebentar a cabeça desses bichos medrosos e friorentos que moram dentro, mas principalmente fora de mim.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Bichos-medrosos-e-friorentos
Khaled
10 de setembro 2021
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia

Ajmal Kakar/Xinhua
Sei que Khaled é o nome mais comum em que eu poderia pensar para imaginar o nome de um garoto afegão e que você não é comum, Khaled. Mas você tem esse nome e não posso fazer nada. Não sei por que você está olhando para mim, justo para mim, tão longe, no Brasil, mas recebi seu olhar. Você não está pedindo socorro nem está desesperado. Você, inclusive, me pergunta por que eu imagino que você poderia estar desesperado, porque seu olhar, ao mesmo tempo que pede, também duvida um pouco e eu gosto da sua perplexidade algo cética.
Você cresceu muito antes do tempo, Khaled e antes de ter chegado na escola, hoje, já preparou o almoço de seus irmãos mais novos, já guardou as roupas que sua mãe tinha lavado e já acompanhou seu pai até a pedreira, ajudando a carregar os equipamentos. Diferente dos outros garotos, que prestam atenção ao professor e à lousa e diferente também dos outros poucos que olham para a câmera, você não está com medo. Só desafiadoramente curioso ou curiosamente desafiador. E pergunta: o que vocês querem nos filmando? Acham que podem nos ajudar, acham que precisamos mesmo de ajuda ou só querem brincar de criar imagens de nós?
Eu não te filmei, Khaled, só vi a foto, aqui longe, em outro dia e não me senti desafiada, mas convocada. Você quer saber o que eu penso de você e do seu país, se me preocupo com todos e especialmente com você, se tenho medo do que vai acontecer com seu futuro e se tenho críticas ao ensino no Afeganistão. Te confesso que não sei nada, Khaled e que, por isso, não acredito em minhas pretensas opiniões sobre seu país. Você me pergunta então de que vale você ter me convocado se não posso te ajudar em nada e eu me faço a mesma pergunta. Estou tão sozinha, aqui, sem saber o que fazer e sabendo que qualquer coisa que eu possa pensar sobre você é inútil, tão inútil quanto essa mesa onde não há cadernos nem livros nem lápis.
Sou professora há tantos anos, mas ainda não tinha visto esse olhar em nenhum dos meus alunos. Já vi urgência, sonho, distração e atenção, mas ainda não tinha visto o arregalo sentencioso, condescendente e carente do seu olhar. Você é bonito, Khaled, é curioso e determinado e seu desempenho é ao mesmo tempo superior e diferente do de seus colegas, que saem da escola rindo e brigando, enquanto correm de volta para casa, parando para fumar um cigarro no caminho, enquanto você caminha mais devagar, chutando uma pedra e mastigando um pão.
Não posso fazer nada por, com ou para você, mas posso prestar atenção nesse fio que você me lançou e tentar lança-lo de volta. Para quem, ainda não sei bem. Mas você me pegou e surdamente te digo que, de um jeito ou de outro, você vai resistir ao que for necessário, como as conchas resistem à água e como o sono resiste ao relógio.
Khaled, me ensine uma palavra em pashto e eu te ensino uma palavra em português. Te ensino a falar “chocolate” e você me ensina a falar “escada”.
Talvez você, na verdade, se chame Abdul, Nur ou Haffizulah. Não sei. Talvez eu mesma me chame Laura, Joana ou Clara. O tempo, senhor das coincidências e das histórias, vai se encarregar de nos dizer.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Khaled
Cula-cula
09 de junho 2021
Por Noemi Jaffe para Blog da Companhia
Se eu não fosse escritora, seria relojoeira. Teria um guichê pequeno numa galeria estreita de Osaka e consertaria relógios com umas ferramentinhas que eu teria desenvolvido e que seriam disputadas por concorrentes invejosos, além de lupas feitas com lentes alemãs, que eu revezaria de olho em olho. Entre meus clientes estariam reis e pastores, escritores e misses de todos os países. Eu seria muito rica e, por isso, saberia de quem cobrar e a quem franquear meus serviços. De vez em quando eu ajustaria alguns relógios propositalmente errados, porque saberia que aquela mulher precisaria acordar mais cedo para não ser demitida, ou aquele homem precisaria chegar adiantado ao encontro com a mulher que ele amava.
Ou então nada disso. Seria uma linguista e trabalharia numa universidade na Índia, em Ahmedabad, onde estudaria sânscrito antigo, estabelecendo relações entre ele e as línguas modernas do médio oriente. Esses estudos não teriam finalidade alguma, salvo serem lidos por mais três ou quatro especialistas como eu no resto do mundo, com quem eu teria encontros a cada dois anos, quando então compararíamos nossos resultados completamente inúteis e nos felicitaríamos com palavras de línguas desconhecidas, como cula-cula ou tristrotreu, fazendo reverências arcanas combinadas com gestos modernos.
Que bobagem. Eu seria botânica e pesquisaria, com base no livro “Prosa do Observatório”, do Cortázar, o ciclo misterioso das enguias e enfim descobriria onde elas se escondem antes de iniciarem sua jornada, a cada sete anos, na direção do Mar dos Sargaços, para lá se reproduzirem. Como os fósseis desses eurialinos têm mais de cem milhões de anos e coincidem com o tempo dos dinossauros, eu teria conhecido um especialista nesses animais gigantes e teria me casado com ele. À noite, sob a lareira, discutiríamos sobre coisas grandes e pequenas, como grãos de açúcar e estrelas cadentes.
Pensando bem, não. Seria uma pastora nômade tuaregue, vagueando pelo Máli, Nigéria e Burkina Fasso. Escreveria o tifinague, falaria berbere e seria uma tamajaq imuhag. Seria uma das poucas a saber escrever perfeitamente em tifinague, de cima para baixo e sem o uso das vogais, o que levaria alguns indivíduos da comunidade a duvidar de algumas interpretações de antigas inscrições fenícias. De qualquer modo, eu me congratularia com a geração mais jovem de berberes, que teria modernizado o alfabeto e não oporia resistência a mudanças que permitissem divulgar e espalhar a nossa língua e escrita. Meu rebanho de cabras sempre me acompanharia onde quer que eu fosse.
Finalmente, seria uma DJ num clube gay de Berlim. Faria mixagens de Bach com Beck e de Chopin com Velvet Underground. Os convidados das minhas festas inventariam uma dança que seria feita só com os dedos e os olhos e o resto do corpo parado. Haveria raves de 3 minutos e também de horas e horas, regadas com drinks feitos de graviola e cachaça ou de vodka e flor de sal. Sorvete seria servido o tempo todo, em taças coloridas e engraçadas.
Se eu não fosse escritora, pelo jeito, gostaria mesmo é de ser escritora, para poder inventar tudo o que eu não seria se não fosse o que sou.
https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Cula-cula
CAOS VIBRANTE
25 de junho 2021
Por Noemi Jaffe para Fronteiras do Pensamento
Sou uma escritora confusa. Meu processo criativo é contínuo – pensamentos, sonhos, associações, leituras, pesquisas – e, ao mesmo tempo, segmentado. Sei que isso parece contraditório, mas tem funcionado ao longo dos últimos anos, produzindo uma literatura que, na minha opinião, reflete bem esse lapso aparente entre fluxo e interrupção.
Faço muitas atividades simultâneas: escrevo literatura, sou professora de escrita, escrevo colunas e críticas e administro um espaço cultural. Não tenho como separar essas atividades e, por isso, elas acabam todas se misturando e dou aulas como se estivesse escrevendo, escrevendo colunas como se estivesse numa reunião e escrevendo livros como se estivesse dando aulas. Encontro semelhanças entre todas essas coisas e uma sempre interfere na outra, seja tematicamente ou na forma como crio. Assim, enquanto preparo uma aula, lendo um trecho de algum autor, vou reparando nas nuances dos recursos narrativos e pensando em como posso usá-los no que estou escrevendo. As conversas com os alunos sempre me abastecem de ideias e uso minha própria escrita para análise em classe, expondo-a às críticas dos escritores que frequentam as oficinas. Procuro escrever as colunas com um viés literário, assim como, cada vez mais, me interesso por eventos concretos para dar sustento à linguagem ficcional. É como uma roda ourobórica que se retroalimenta, justificando que eu não precise parar uma atividade para me dedicar à outra. Além disso tudo, também gosto muito de desenhar e de bordar, coisas que, embora sem competência alguma, vão se fazendo no tempo, que é o de que mais preciso para entender o processo de escrita, também ele feito de contornos e alinhavos.
Por isso considero que minha escrita seja contínua – porque passo os dias, semanas e meses pensando no que vou escrever, como vou escrever e por que quero continuar escrevendo, mesmo que não sente para fazê-lo. Aliás, costumo escrever nas coxas, ou seja, sentada num sofá, com o computador no colo. Vou lendo e tudo o que leio, de alguma forma, me remete ao livro que imagino desenvolver. De repente, estou fazendo uma pesquisa a respeito, anotando, fazendo fichas, começando e terminando caderninhos. Tudo é fonte: músicas, filmes, notícias e, principalmente, outras leituras.
Por outro lado, quando decido que chegou a hora de dar início ao romance, o processo contínuo que vinha de desenrolando se torna espasmódico e interrompido.
Novamente devido às coisas que não param, meu tempo de escrita é curto e eu mesma não tenho o fôlego para me dedicar muito tempo a escrever. Fico, em média, cerca de uma hora por dia nessa atividade e retomo no dia seguinte. Às vezes até menos. Uma de minhas características narrativas é que não gosto de sequências: temporais, de trama, de cronologia. Não consigo escrever e não tenho afinidade com histórias que seguem linearmente e que contam peripécias de um início até um fim. Adoro ler coisas assim nos livros de outros escritores, mas pessoalmente, não é esse o meu forte. Por isso, não suporto nem a visão de expressões do tipo “no dia seguinte”, “muito tempo depois”, “naquela manhã”.
Não sei o que veio antes: se minha dificuldade em ficar várias horas escrevendo me levou a isso ou se isso me levou a não ficar diante do computador essas várias horas. O fato é que esse tempo curto faz com que minha literatura seja, quase sempre, feita de capítulos curtos e fragmentos que, muitas vezes, podem ser lidos até autonomamente. Minha vontade é que o leitor sinta como se nada começasse nem terminasse, mas acontecesse. Que ele faça as conexões temporais que quiser e que ligue os eventos conforme sua interpretação.
Da mesma forma, quando começo um livro, tenho algumas ideias sobre o tema geral, mas quase nada sobre a forma como ele será desdobrado. Aliás, um dos motivos que mais me estimulam a escrever – e acordo de manhã ansiosa por isso – é descobrir o que, mas principalmente como, vou escrever alguma coisa. É no próprio gesto da escrita, nas palavras que uso, que vou me dando conta da história e de seu desenvolvimento. Ah, então quer dizer que a personagem é gaga? Eu não sabia. Ou então, que surpresa que a protagonista tenha resolvido fugir ou que tenha dito aquilo dessa forma. Tenho certeza que a mente em estado de escrita funciona diferente do que em outros estados e que a disposição física e mental para escrever literatura condiciona formulações semânticas e sintáticas totalmente distintas daquelas que costumamos fazer quando falamos.
Escrever é da ordem das coisas arriscadas e se a escrita não for um risco, na minha opinião, é melhor não escrever. É preciso que um escritor se arrisque inteiro no que faz: que não saiba mais do que saiba; que experimente se aventurar em formas que ainda não domina; que pesquise temas ainda estrangeiros à sua história; que fale sobre assuntos capciosos; que se entregue aos seus personagens como se eles pudessem rasgá-lo por dentro e por fora; que seu corpo e sua mente estejam ambos empenhados em buscar encontros inesperados entre si e com a escrita. Sei que essas premissas são bastante idealistas, mas, na prática cotidiana da escrita, esse processo é estranhamente plausível e, de qualquer forma, se a literatura não esbarrar em torno de algum sonho ou ideal, fica difícil entender por que exercê-la. “O poema deve ser como a nódoa no brim: fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero”, Manuel Bandeira disse num poema e quem sou eu para negá-lo? Acontece que, para desesperar o leitor satisfeito de si é necessário também sujar-se e nenhum livro que confirme ou reproduza as coisas como elas são vai conseguir desesperar alguém.
Faz parte dessa ideia de risco uma noção que Tim Ingold, antropólogo inglês, desenvolveu ao refletir sobre caminhadas, prática que também é parceira da escrita: o caminhante nômade, segundo ele, é não somente aquele que se coloca como sujeito do que vê, escuta e testemunha ao longo de suas trilhas, mas, igualmente, aquele que sabe se colocar como objeto do que presencia. Ele se permite vagar sem saber para onde, se permite ser surpreendido pelo que vê e se deixa ser visto pelos outros, pessoas e coisas, que também se surpreendem com ele. Na escrita ocorre algo semelhante: o escritor flanador deixa que seus personagens o espantem, não sabe exatamente para onde vai e se permite ser levado pelas palavras, entregando parte de sua atividade ao corpo e não somente à cabeça. Quando é o corpo, ou a mão, a conduzir a escrita, o escritor se torna parte integrante do que escreve, organicamente associado a sua criação. E não penso aqui em nenhuma possessão divina ou inspiratória, de modo algum. Como já disseram tantos outros, a inspiração não passa de uma combinação de fatores externos e internos que, no processo e no trabalho criativos, desperta novas formas e ideias. Penso, na verdade, em um escritor que sabe não ser somente sujeito, mas também objeto das circunstâncias e das palavras. Por paradoxal que possa parecer, não é a autonomia que garante a liberdade da escrita, mas um equilíbrio entre autonomia e heteronomia, em que os outros – as palavras e as coisas – interferem no escritor tanto quanto ele interfere nelas.
Sou uma escritora confusa, como disse. Mas me sinto bem nessa confusão e aprendi a gostar dela, um caos vibrante de que participo, ora no placo e ora na plateia.
https://www.fronteiras.com/artigos/caos-vibrante
Uma coisa
É assim que nos tornamos temporais, fartamente solitários e amantes incompreensíveis da solidão, incapazes, como eu sou, de compreender a história infinita
Janeiro de 2009
Por Noemi Jaffe para a Revista Piauí

Eu aprendi que qualquer coisa pode se transformar numa história interminável e infinita. A palavra tigre contém o conhecimento de um tigre, de todos os tigres, dos mamíferos, de sua história no planeta, do capim que eles comeram, dos insetos que comeram o capim – da idéia de eternidade contida nos insetos, por oposição à idéia de tempo, propriedade dos mamíferos. Será que então estaríamos condenados a não falar sob pena de que, ao dizermos qualquer palavra, estaríamos traindo a eternidade, o galope dos cavalos e tudo o que ainda não aconteceu? Ou, ao contrário, estaríamos livres para sempre dizer tudo o que quiséssemos, mesmo que aparentemente sem sentido nenhum, já que todas as palavras sempre conteriam todo o conhecimento do mundo e da humanidade? E será que então estaríamos sempre, a todo o momento, realizando o sonho da biblioteca de Babel, do livro dos livros, simplesmente ao falar, mesmo que seja “que horas são”? Tudo isso era porque eu queria contar um caso simples, que eu achei que, por ser tão simples e maternal, não teria estofo para preencher uma história. Foi então que eu lembrei que havia recentemente aprendido com meu fígado, com as coxas, com os cílios, que todas as histórias são intermináveis e contêm todas as outras que já foram, não foram, serão e não serão contadas, e então eu percebi que sim, que eu poderia contar esta história boba, porque ela conteria também as histórias que todas as mães contaram aos filhos nas casas das aldeias polonesas do século XII, e as histórias que os condenados ao calabouço pensaram antes de morrer, e as histórias que meus sucessores no futuro vão contar sobre um passado distante, quando um pio de passarinho ainda se misturava ao barulho de um motor velho de caminhão. E a história que minha filha me contou é que o pai dela um dia lhe disse que “nada é perfeito”. E ela, como era criança – e como as crianças acreditam na integridade das palavras dos adultos, porque para elas os adultos sempre dizem a verdade, sem saber que na verdade são elas, na sua crença, que são proprietárias da verdade que existe, e que consiste somente em acreditar nela e não em dizê-la, porque no momento em que você diz qualquer coisa você já está mentindo, mas não dizer e acreditar na verdade do que os outros dizem, aí é que está a verdadeira verdade –, ela, minha filha, acreditou que “nada é perfeito”. Mas como era possível que nada fosse perfeito? Se aquilo era verdade, como minha filha continuaria acreditando na verdade perfeita do que dizia o pai? Se tudo o que o pai diz é perfeito em si mesmo, independentemente do conteúdo, perfeito só na condição única de ser pronunciado por um pai, como pode então um pai dizer que “nada é perfeito”? Se essa frase é perfeita, por ter sido emitida pelo pai, o que resta do pai? E o pai, que desenha muito bem, desenhou um dos 101 Dálmatas para a minha filha. E o desenho era perfeito, idêntico ao dálmata que aparecia na figura do livro de histórias. E minha filha pensou que era impossível que nada fosse perfeito e entregou-se ao exercício de encontrar algum defeito no desenho do dálmata perfeito, porque seu pai lhe havia dito que nada é perfeito. Se ela achasse perfeito o desenho do dálmata, estaria traindo a verdade do pai. Se, respeitando-o, achasse o desenho do dálmata imperfeito, trairia então sua percepção da perfeição, seu amor à capacidade absoluta de seu pai de desenhar um dálmata perfeito.
É assim, eu imagino, e aqui fiz meu primeiro parágrafo nessa história que eu supunha interminável, mas que agora, por ter posto o parágrafo, percebi que se aproxima do fim, é assim que a credulidade se desequilibra, estremece o pomo da certeza e se transforma numa pergunta, metralhadora sagrada do medo, do sonho e da maldição. É assim, eu acho, e isso já soa como uma moral da história, mas eu não me importo nem um pouco que seja assim, porque eu não tenho nada contra morais de histórias, porque já que as histórias acabam, então que elas acabem alguma hora, e que pelo menos seja com algum pequeno ensinamento, para que a tristeza do fim de qualquer coisa e de qualquer história se carregue de alguma textura táctil e o homem que ouviu a história vá para casa pensativo e tome café e pense se ele quer mesmo trabalhar naquela noite e olhe para sua mulher que está lutando com a boca do fogão que não acende, com um carinho que voltou e logo vai desaparecer. Mas eu dizia que acho que é assim, com a instalação da dúvida como um cabo elétrico instalado por um eletricista numa criança, é assim que o tempo começa a atuar sobre o olhar curioso e o torna um pouco desconfiado. E é assim que nos tornamos temporais, fartamente solitários e amantes incompreensíveis da solidão, incapazes, como eu sou, de compreender a história infinita, o caso milenar que está a querer me contar aquele cruzamento de duas montanhas, uma mais alta e outra mais baixa, que eu vejo paradas no horizonte. Elas estão falando, ouço o eco de uma história silenciosa, que contém toda a verdade do tempo, das histórias, das palavras e do silêncio. Mas eu não consigo ouvir.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/uma-coisa/
Nem vivos nem mortos
Os campos de concentração são a fome; mais do que tudo é ela a determinante de todos os outros acontecimentos, belos ou horríveis
Setembro de 2012
Por Noemi Jaffe para a Revista Piauí

Em abril de 1945, a Cruz Vermelha chegou até as proximidades do campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, e libertou os prisioneiros que ainda se encontravam ali. Entre eles estava minha mãe, que já tinha passado por Auschwitz e outras localidades, então com 19 anos de idade. Ela fora capturada um ano antes, na cidadezinha de Szenta, onde morava, na fronteira entre a Hungria e a atual Sérvia. A Cruz Vermelha, após libertá-los, levou os prisioneiros para Malmö, na Suécia, onde eles permaneceram em quarentena. Lá, com suas três primas, que sobreviveram aos campos de concentração, principalmente por terem conseguido trabalhar na cozinha, ela escreveu um diário de guerra. Nele, procura reconstituir suas lembranças mais importantes, desde a captura até a libertação, narrando os acontecimentos como se estivesse registrando-os no momento, ou imediatamente depois de sua ocorrência. Daí algumas imprecisões cronológicas e factuais, que decidi manter para ser fiel à escrita original. Atualmente, o diário se encontra no Museu do Holocausto, em Jerusalém. Em fevereiro de 2009, eu e minha filha Leda fizemos uma viagem até a Alemanha e Polônia (Varsóvia, Cracóvia e Auschwitz), tentando reconstituir parte do trajeto de minha mãe durante a guerra. O resultado dessa viagem é o livro O que os Cegos Estão Sonhando?, a ser publicado em outubro, com a edição integral do diário de LIWIA JAFFE, atualmente com 85 anos, e um misto de memórias, reflexões e ficção escritas por mim, além de um depoimento final de Leda. Parte desse livro aparece pela primeira vez aqui.
SENTA, [1] 25 DE ABRIL DE 1944_Todos à minha volta, assim como eu, estamos tristes. Sabemos o que está acontecendo e também o que acontecerá. Meu pai está sentado no sofá, durante a manhã toda, calado, fitando o nada. Por vezes, olha-nos e fecha os olhos tristes. Minha mãe nos consola: não acredita no mal, porém está arrumando as malas, faz doces e suspira fundo, sem que ninguém possa ver.
Meu irmão e eu observávamos e, sendo duas crianças, saímos para chorar. Ninguém nos conta nada, mas sabemos o que está acontecendo. Sabíamos que no dia seguinte, às 8 horas, os alemães viriam nos buscar e nos arrancar de nosso lar.
26 DE ABRIL_Levantamo-nos bem cedo. Tudo estava arrumado. Chegaram na hora certa! Eram sete.
Um deles sentou-se junto à mesa e começou a escrever. O segundo olhou as nossas coisas e deu uma ordem:
– Arrumem suas tralhas daqui a cinco minutos. São coisas para duas semanas. Levem comida e saiam da casa!
Está chovendo. Estamos juntos. Nossa família junto com as outras famílias judias. Vão nos levar para a escola judaica. Duas mulheres alemãs nos revistam, um por um, à procura de joias. Estamos dormindo no chão.
27 DE ABRIL_Às quatro da manhã nos escorraçam de um modo pior do que animais são tratados. Chove sem parar. Lama até os joelhos. Mulheres velhas e crianças pequenas choram. Os alemães batem em todos e gritam:
– Judeus sujos!
Nossos pés se colam à lama. Chegamos ao trem de carga com muita dor. Somos 65 pessoas em cada cabine. Não sabemos para onde estão nos levando. Mamãe nos abraça e engole as lágrimas. Estamos viajando o dia todo e nem pensamos em comida. Dormimos sentados do jeito que estávamos.
SZEGED, [2] 28 DE ABRIL_Chegamos às 11 horas com nossas bagagens nas costas, cansados. Andamos 5 quilômetros dentro da cidade. Horrível! Velhos e crianças choram, pedem ajuda. Em vão. Quem não andava apanhava. Jogamos fora muitas coisas para o peso ficar mais leve. Chegamos, com muita dificuldade.
Colocaram-nos, 65, num só quarto e ordenaram:
– Vocês devem deixar o local limpo! Levantar às cinco e meia da manhã e dormir às dez da noite! Escolham alguém do grupo para ser responsável pela ordem.
Queriam escolher mamãe. Ela não aceitou. Ficamos ali durante um mês. Comendo pó. Tínhamos ainda comida que havíamos trazido de casa.
19 DE MAIO_Inesperadamente nos expulsam da escola à meia-noite. Está escuro, não enxergamos nada. Gritaria. Pedimos que acendessem as luzes. Por sorte, conseguimos. Fora, esperava-nos uma carroça para carregar as nossas malas. Na estação de trem, tivemos de ficar numa fila. Dividiram os pacotes. Novamente dentro de vagões. Viajamos a noite inteira.
BAJA, [3] 20 DE MAIO_Chegamos pela manhã. Enfiaram-nos numa fábrica de móveis próxima à estação. Como éramos muitos, nos dividiram em dois grupos. Metade ficou na fábrica. A outra metade, também nós, acabou conduzida a um simples chiqueiro. Nós mesmos tivemos de limpar o lugar. Forraram o chão gelado com areia limpa. Ali ficamos por nove dias. Papai ficou muito doente, febre alta. Minha velha mãe também se resfriou, ficou fraca. Mamãe mostra-se forte, mas percebemos tudo. Ela nos olha o tempo todo e se esforça para tornar as coisas mais leves para todos nós. Diz que não lhe dói nada, não sente dificuldade alguma. Ela e papai suportariam juntos o dobro das coisas para que não sofrêssemos.
28 DE MAIO_Tivemos de formar uma fila às 9 horas. Os alemães fizeram uma contagem das pessoas. E nos levaram. Na mesma noite deixamos ‘‘nosso” chiqueiro e fomos conduzidos à estação. Setenta dentro de um vagão, com os pacotes, que foram atirados para dentro depois de termos entrado. Papai e mais alguém procuravam pôr alguma ordem ali. Arrumaram os pacotes. Cada um pôde se sentar sobre as suas próprias coisas.
Viajamos durante seis dias. Sem água, sem comida. Papai tem febre o tempo todo. Mas se faz de forte. Mamãe nos consola, nos abraça. Minha velha mãe chora. Doem-lhe as costas. Nem consegue ficar sentada mais.
AUSCHWITZ, 4 DE JUNHO_Mandaram-nos sair dos vagões sem os pacotes. Separaram homens e mulheres. Papai com meu irmão. Nós quatro numa outra fileira. Mamãe, minha priminha de 4 anos, meu primo de 8 e eu. Fila longa. Ouvimos um alemão gritar de longe: direita, esquerda… Quando chegamos mais perto, mamãe escondeu-me debaixo do casaco dela, que ela ainda possuía, esperando evitar que nos separassem.
Chegamos até o primeiro alemão. Mandou ir para a esquerda. Um outro nos examinou e nos deixou passar. Mas o terceiro ordenou que eu fosse para o lado direito. Éramos muito jovens. Eu e minha amiga Kátitza Blaier chorávamos juntas. Ela chegou depois de mim e disse que mamãe lhe gritava de longe que tomasse conta de mim.
À meia-noite entramos no campo de concentração. Caminhamos muito até chegar a um banheiro. Entramos. Dentro, estava cheio de alemães e alemãs que tiraram de nós tudo o que tínhamos ainda. Em seguida, precisamos ficar nuas e entrar num outro lugar. Havia somente mulheres ali. Cortaram os nossos cabelos. Sentia muito por meu cabelo, mas, quando pensava em meus pais, não sentia nenhuma outra dor. Tomamos um banho com água quente. Levaram-nos, molhadas ainda, para um lugar seco, onde recebemos vestidos. Era algo terrível, mas ainda assim ríamos. Uma mulher de uns 30 anos recebeu um vestido infantil curto. Tentou devolver, mas não trocaram. Algumas só recebiam uma saia sem blusa, outras só blusas sem saias. Sentia frio, nua e molhada, parada em pé ali até que chegasse a minha vez. Ganhei um vestido preto longo. Disseram-me que tenho sorte. Puseram-nos novamente em fila diante do banheiro.
Estava escuro… Era uma da manhã. Pouco mais tarde, quando os olhos se acostumaram com a escuridão, percebi que havia homens ao nosso lado. Procurava por conhecidos e então vi papai e meu irmão, que me indagavam onde estava mamãe. No momento em que tentava responder, vieram uns alemães e me levaram dali. Não se enxergava nada em volta. Havia fogo, chamas, e dava a impressão de que cada vez mais nos aproximávamos do fogo. Tínhamos medo, mas não chorávamos. Havia entre nós quem chorasse e gritasse e esses eram levados para um outro lugar, sei lá para onde. Chegamos a uma construção de madeira que chamavam de “bloco”. Mil de nós fomos enfiados nesse “bloco”. Dentro também estava escuro e ouvia-se apenas uma voz rude que ordenava gritando:
– Sente-se onde estiver!
Senti um cimento úmido. Não me sentei, ajoelhei apenas. De madrugada nos mandaram sair. Mostraram como devíamos ficar paradas e leram as regras de como devíamos nos comportar. Levantar diariamente às três da madrugada, ir em fila até o banheiro, voltar em fila. Ficar em fila de cinco, que era chamada de Zeltappell. [4] Às cinco, viria um alemão que faria a contagem de quantos éramos. Às seis, seria distribuído um café e, quando ouvíssemos um sino, o Zeltappell estaria encerrado. Feita a revista, de volta ao pavilhão, em filas. Ao anoitecer, às seis da tarde, seria distribuído o jantar: 200 gramas de pão, sopa e uma colher de margarina.
Ficar em pé das três às seis era horrível. Quando percebíamos que não havia um alemão por perto, nos abraçávamos para não sentir tanto frio. Mal podíamos esperar por aquela água negra e quente – café aquilo não era. Uma tarde daquelas nem consegui morder o pão. Parecia um pedaço de tijolo. De fato, era feito de pó de madeira. No primeiro dia, não comi nada. Nem no segundo. Mas, depois, precisava. Eu tinha fome.
Num campo, éramos 30 mil – trinta blocos com mil pessoas cada. Campos iguais, um ao lado do outro – havia uns vinte e, mais longe, onde nem a vista chegava, havia mais. O campo tinha 1 quilômetro de comprimento. No final, havia uma guarita. O campo era cercado por arame eletrificado. Havia oito crematórios sempre acesos. Podiam-se ver as chamas.
4 DE JULHO_Ontem chegamos ao campo C. Como já não escrevo faz um mês, escreverei sobre o passado. No começo, eu passava fome e sofria muito. Nosso pavilhão era defeituoso. Quando chovia, ficávamos molhados como se estivéssemos fora, debaixo da chuva. As camas – se posso chamá-las assim – eram apenas estruturas de madeira, umas sobre as outras, três andares, com doze pessoas em cada estrutura. Frequentemente acontecia de desabarmos. Eu queria sempre ficar no andar mais alto; não havia pó e eu sentia que tinha um pouco mais de ar. Dormíamos como sardinhas em lata. Quando começava a nos doer o lado direito, sobre o qual estávamos deitadas, precisávamos deitar para o outro lado, juntas. Em casos como este é que caíamos. Aquelas sobre as quais desabávamos gritavam de dor, claro. No dia seguinte, a punição: não recebíamos comida alguma. E isso se repetia diariamente. Certo dia, Alice, minha prima, trouxe uma batata e um pedaço de repolho. Dividimos tudo em quatro pedaços e comemos como se fosse a refeição mais deliciosa.
6 DE JULHO_À tarde, depois da revista do pavilhão, apareceu um homem com uma faixa vermelha no braço. Ele era chamado de kapo. Era o inspetor da cozinha. Escolheram mulheres fortes para a cozinha. Minhas três primas foram escolhidas entre quarenta mulheres. Eu estava fora dali naquela tarde, porque fui ver a Kátia. Quando cheguei, me contaram; fiquei desesperada; não queria me separar delas.
As quarenta escolhidas tinham de ficar fora da fila.
Chovia forte. Eu tinha uma blusa fina de véu com saia preta. Devíamos ficar em pé. Não podíamos sequer erguer as mãos. Quando terminou a revista, queria me enxugar um pouco com as mãos e, assustada, vi que não havia mais blusa em mim: se desfez com a chuva. Como não podia ficar em pé ali, nua, apanhei o minúsculo cobertor que já tínhamos e fiquei parada assim.
Eu e minhas primas decidimos não comer nada naquele dia. Trocamos a comida por roupas e, com isso, arrumamos um vestido para mim.
Depois disso pensamos que eu poderia juntar-me a elas na fila. Na manhã seguinte, saímos para a revista. Havia muitas de nós com cobertores. Eu estava no fim da fila e, no momento em que ninguém viu, joguei o cobertor e fiquei junto de minhas primas. Consegui. Logo depois, vieram fazer a contagem.
– Havia quarenta aqui, que eu contei; agora deveria ter quarenta, mas tem 41!
A alemã berrava furiosa:
– Se aquela que não tinha sido escolhida não se apresentar, todas serão punidas.
Não me apresentei. Estava pronta para o pior.
A alemã furiosa começou a selecionar de novo. Chegou a nossa vez. Sem uma palavra, separou minhas primas e parou diante de mim. Todos me consideravam criança: era pequena e sem cabelos parecia ter uns 15 anos.
– Escolhi você ontem?
– Sim, senhora.
– Mas você é pequena ainda e não precisa cozinhar.
– Certo. Mas não sou pequena. Tenho três primas e gostaria de ficar com elas.
Era furiosa, mas comigo brincava. Chegou a gostar de mim. Deixou-me ficar e dispensou outras cinco.
Recebemos roupas. Deram-me um vestido bonito.
Não tinha mais medo. Sempre ficava agora à frente das demais.
2 DE AGOSTO_Passou-se quase um mês desde que estou na cozinha. Eu me acostumei ao fato de que tínhamos tanta comida quanto precisássemos. Mas isso não bastava. Tínhamos muitos conhecidos passando fome. Não podíamos ficar vendo-os inertes. Era muito perigoso roubar, ainda que de modo organizado. Coitado daquele que fosse apanhado por um alemão! Ainda assim, começamos. Uma vez que os nossos conhecidos não estavam em nosso campo, tínhamos de entregar tudo pela cerca eletrificada. Apenas eu tinha coragem. O primeiro alemão que visse atiraria imediatamente. Minha mão não podia tocar no arame eletrificado, porque isso também era a morte. Mas eu não temia, não tinha medo da morte. Encarava tudo com frieza. Era assim todos os dias.
Anteontem, Hajnal, [5] uma de minhas primas, trouxe de novo quase 1 quilo de margarina. Alice escondeu logo entre os repolhos, com a intenção de tirar de lá de noite, antes de voltarmos ao barracão. Então, uma das garotas pediu que Alice lhe desse um pouco de margarina, porque ela não tinha nada.
Alice lhe respondeu que prestasse atenção para que ninguém a percebesse enquanto retirava a margarina. Mas apareceu uma alemã e a viu.
– O que você está fazendo?
Alice, assustada, respondeu:
– Peguei um pouco de margarina.
– Como assim?
– Bem, somos quatro irmãs… como não estamos nos sentindo bem, juntamos as nossas porções…
Esbofeteou Alice.
– Mostre-me suas irmãs!
Eu não estava lá. Em meu lugar, uma de nossas amigas se apresentou.
– Ah! São vocês!? Ficarão de joelhos até a revista, que é às 13h30. Se até lá vocês não confessarem quem roubou a margarina, vou jogar as quatro no crematório!
Alice não disse que foi Hajnal. Nem as outras falaram. Enquanto elas estavam ali, de joelhos, retornei. Contaram-me o que havia acontecido. Corri direto para dizer à alemã que eu era a culpada. Por que quatro devem pagar, se eles ficariam satisfeitos com uma só? Eu não tinha medo da morte.
Bati à porta. Entrei. Dentro estava a alemã acompanhada de um alemão.
– Por que você veio? O que você quer?
Naquele instante, eu não conseguia responder. Chorava e, em meio às lágrimas, disse:
– Soltem minhas primas. Elas não são culpadas. Eu roubei a margarina.
Ela correu até mim e me esbofeteou.
– E então você confessa isso assim? De onde você pegou a margarina? E sabe como você vai pagar por isso?
– Sei! Perdão! Vi sobre a mesa e peguei. Não faço nunca mais.
– Agora vou mostrar o que você vai receber por causa disso. Você nunca mais vai ver a luz do sol. Isso eu garanto!
Tentei implorar clemência, mas ela nem queria ouvir.
O alemão perguntou:
– Quantos anos você tem?
Claro que eu disse um ano a menos.
– Dezesseis.
– Dezesseis anos e ainda não sabe que não pode fazer isso?
Olhou a alemã e sussurrou:
– Não seja tão rígida. Você está vendo que ela ainda é jovem.
A alemã, enfurecida:
– Por que você a defende? Irei até o chefe do campo. Ele dará um jeito nela.
E saiu. Enquanto isso, ele me conduziu para fora, até um monte de tijolos. Ordenou que me ajoelhasse e que segurasse um tijolo enorme sobre a cabeça. Apanhei o tijolo, mas logo precisei colocar de volta, porque não consegui erguê-lo.
O alemão olhava meu sofrimento. E disse:
– Olhe, se você não se esforçar, ela vai voltar. Sabe o que espera por você?
Levantei o tijolo, com um esforço enorme, mas não conseguia segurar. Caiu sobre a minha cabeça. Pensei que fosse desmaiar. Mas fui forte. Lágrimas caíam de meus olhos feito chuva, não porque eu estivesse arrependida, mas de dor mesmo. Fique ali, de joelhos, por duas horas. Apareceu o alemão e disse:
– Levante-se! Entre na cozinha e continue trabalhando!
Coloquei o tijolo no chão e tentei levantar. O lugar duro em que fiquei ajoelhada machucou tanto meus joelhos que caí. Ouvi novamente a voz do alemão. Quis levantar, mas não consegui. Fiquei sentada uns dez minutos. Depois voltei para a cozinha, onde desmaiei. Minhas primas choravam; puseram compressas frias em mim; me consolaram até eu melhorar.
1º DE SETEMBRO_Tive muitas dores na perna. Já era o segundo dia assim, sem conseguir trabalhar. Pensei que nunca mais seria capaz. Mas não podia fazer nada. Aqueles para quem eu levava coisas estavam famintos. E eu tinha comida à mão. Não suportava a impossibilidade de lhes levar.
* * *
5 DE ABRIL DE 1945_Não estamos nem vivos nem mortos. De 120, sobraram cinquenta. Estamos entre Bendorf e o campo de Bergen-Belsen. Estamos perto de Hamburgo, mas não há como viajar daqui para a frente. Os aviões nos sobrevoam o tempo todo; os homens nos consolam e dizem que a libertação está próxima. Mas não acreditamos. Já tenho dificuldade para falar. Pedimos ao alemão que não nos torture mais; não queremos viver mais, que nos mate. Ele também nos consola:
– Vocês e nós também, estamos todos passando fome. A libertação está próxima. Aguentem mais um pouco.
Estamos em (ilegível). Não sabemos se aguentaremos um dia mais sem comida. Faz seis dias que não comemos. Pedimos, chorando, que o alemão nos mate.
– Está bem, se a vontade de vocês é essa… Nem eu posso ficar vendo o sofrimento de vocês. À tarde, às 3 horas, posso atender ao pedido de vocês.
Agrupamo-nos em turmas de cinquenta. Aguardamos a morte por fuzilamento. São cinco horas em ponto. Os alemães estão prontos. Esperamos em pé o chefe do campo. Chegou às cinco e meia, com o rosto contente:
– Crianças, vocês estão salvas.
À noite chegarão dois caminhões de pão. Os alemães estão todos alegres e todos estão com fome. Retornamos ao vagão. Passou da meia-noite e nada de pão. Gememos em voz alta, mas as nossas vozes não podem ser ouvidas longe.
6 DE ABRIL_Todos os que não morreram estão dentro do vagão, e não estão bem conscientes. Eu também pareço embriagada; não enxergo; parece que tenho espuma na boca. Ao meio-dia chegaram os caminhões com pão. As alemãs mesmo estão cortando e distribuindo. Cada um de nós recebe meio pão com margarina. Trouxeram pão da Suécia. Novamente temos um pouco de forças. Comemos pouco, porque guardamos também para as outras mulheres. De noite, viajamos para mais longe.
Chove. Saímos do vagão. Chegamos às 6 horas. O campo não é longe da estação, mas ainda assim nos molhamos todas até chegarmos. Levaram os doentes (ilegível), nós fomos para o pavilhão. Estava quente, havia aquecimento. Ganhamos comida. Alice e Hajnal foram trabalhar na cozinha e, assim, tínhamos um pouco mais. Recebi remédio para a minha perna.
25 DE ABRIL_Depois da revista pela qual passamos, duas vezes, não retornamos ao bloco. Fomos para a estação. Não nos aguardavam vagões, mas um trem elétrico que nos levou em grupos de sessenta. Retornavam a cada hora. Pela primeira vez me senti semelhante a um ser humano. Dentro do trem, pudemos sentar em assentos forrados. Às cinco, chegamos a Hamburgo. O campo também é próximo à estação. Ali recebemos cada uma um prato de sopa de beterraba. Comemos tudo. No pavilhão, novamente, somos muitas numa cama. Tive sorte: éramos em oito.
HAMBURGO, 28 DE ABRIL_Chove muito há dois dias. Temos uma alemã que nos bate muito; temos medo. Ouvimos secretamente que estão perto de Hamburgo e que, em breve, sairemos daqui também. Pensamos de novo em vagões e fome.
29 DE ABRIL_Uma alemã chegou ao pavilhão e nos expulsou. Ainda chovia. Saímos do campo em filas. Vemos um soldado alemão diante dos portões com uma cruz vermelha. Estamos diante de vagões. Vagões solitários fechados. Palha dentro do vagão. Diante dos vagões, a Wehrmacht e os SS. [6] Não sabíamos o que aquilo poderia significar. Coisas boas não poderíamos suspeitar. Eu queria comer e minhas primas estavam com medo. Gizika dizia o tempo todo:
– Crianças, economizemos o pão, porque não sabemos durante quanto tempo não teremos mais.
PADBORG, [7] 10 DE MAIO_Atravessamos a fronteira alemã. Estamos na Dinamarca. O alemão saltou do trem e gritou:
– Hitler morreu! O trabalho está concluído.
Enfermeiras dinamarquesas, com uniformes brancos da Cruz Vermelha, vêm nos retirar dos vagões. Oferecem doces. Atiram-nos flores e nos levam de ônibus, cinquenta de cada vez. Chegamos a uma propriedade rural. Discursaram para nós. Que não nos aborreçamos por ter de dormir, esta noite, sobre palha. Que levemos em conta que estamos sujas. Ganhamos excelentes cobertores ingleses. Como já estava escuro, não ganhamos comida. Deitamo-nos.
2 DE MAIO [8]_Um trem nos esperava na estação. Viajamos de segunda classe. Assentos de couro, grande limpeza. Dentro, enfermeiras da Cruz Vermelha distribuíram um pacote para cada um. No pacote, dois pedaços de pão branco com manteiga e queijo; dois pedaços de pão escuro com ovos e presunto, com um copo de cacau e um tablete de chocolate.
Os dinamarqueses foram à estação. Enfeitaram o trem com flores. Atiravam dentro do trem balas, chocolate, doces, e o que cada um possuía.
Durante o caminho, eles nos gritam:
– Hurra! (Viva!)
Já estamos viajando há muito tempo. Ao nosso lado, passam vagões com alemães. A enfermeira nos conta que eles estão voltando da Suécia.
COPENHAGUE, 5 DE JUNHO_Chegamos às oito da manhã em Copenhague. O trem parou diante do porto. Já nos aguardava um navio enorme de três andares. Quando saímos do trem, cada pessoa recebeu um litro de iogurte, que bebemos imediatamente, e doces. Depois, para o refeitório. No navio, entravam cinquenta por vez. Sentamo-nos em quatro a cada mesa. Vieram garçons com o cardápio.
– O que desejam?
Não conseguíamos ter palavras. A enfermeira percebeu isso e fez o pedido por nós.
Café com leite quente, flocos de aveia, pão com manteiga e depois bolo.
O mar é lindo. Verde-escuro, transparente. As gaivotas esvoaçam e eu observo tudo, como num sonho. Liberdade maravilhosa. Não há mais cerca elétrica, ninguém nos vigia, comida quanto desejássemos.
Fico imóvel no convés do navio, vejo como as gaivotas brincam, como o mar balança em ondas. Sinto uma alegria até o fundo de minha alma, e as lágrimas escorrem feito chuva. Como minha querida mãe ficaria contente se estivesse comigo. Papai talvez esteja em casa com meu irmão, mas e mamãe? É possível que nunca mais a veja. Sinto a liberdade maravilhosa e sinto saudades de meus pais. Minhas primas me consolam.
Às oito da noite chegamos ao porto sueco de Malmö. Quando o navio aportou, começaram a estourar fogos de artifício festivos. Os habitantes de Malmö estavam quase todos ali. De repente, um profundo silêncio. O ministro do rei veio fazer um discurso em sueco e em alemão. Depois entoaram o hino, outro foguetório, e nos aplaudiram com muita alegria.
– Hurra! Viva! Viva!
Isso durou quase meia hora.
Nós que estávamos no navio derramávamos lágrimas de felicidade. Nos recebem assim, a nós, que há oito dias ainda estávamos sendo espancados, cuspidos, como os mais selvagens dos selvagens – não podia ser verdade. Chorávamos, tínhamos todos o mesmo sentimento. Os suecos perceberam e alguns choravam conosco. Consolavam-nos, não entendíamos o que diziam, mas sentíamos que eles nos consolavam.
Depois vieram cônsules de vários países e cantaram seus hinos conosco. Primeiro, o holandês, porque havia mais deles. A seguir, os tchecoslovacos, os húngaros, e, depois, nós, os iugoslavos. Ainda havia um cônsul do rei iugoslavo, e cantamos Боже правде, [9] nós que não tínhamos nada a ver com política. [10]
Descemos do navio em seguida. Um ônibus nos aguardava. Diante dele, nos deram chocolate quente, bolos, e então tivemos de subir.
A cidade de Malmö é muito bem iluminada, parece o interior de uma casa. Andamos bastante tempo até que o ônibus parou diante de um prédio. Descemos. Era uma casa de banhos.
Primeiro tomamos um banho. Desinfetaram-nos da cabeça aos pés. Em seguida, numa outra sala, um médico nos esperava. Aquelas que estavam doentes foram imediatamente encaminhadas ao hospital. Limparam a ferida na minha perna e nos deram roupas novas. Prontas, limpas, voltamos ao ônibus.
Não andamos muito. Descemos do ônibus, dois a dois, como bons estudantes. Ficamos olhando ao redor como se nunca na vida tivéssemos visto algo bonito. No 1º andar, apenas vinte de nós num quarto. Limpeza absoluta. Flores nas janelas. Camas brancas. Ficamos imóveis em pé. Olhamos uns para os outros; todos têm a mesma expressão. Um médico está parado ali adiante e uma de nós o inquire:
– Senhor, por favor, diga quantas de nós deveremos deitar numa cama?
Pergunta risível, mas ele não sorriu. Sabia o quanto havíamos sofrido até então. Em voz baixa, e em alemão corrente, respondeu:
– Queridas crianças. Vocês estão na Suécia, em que cada ser humano tem amor igual um pelo outro. Não temos arames à nossa volta, vocês estão livres. Vocês irão se alimentar e descansar, o quanto desejarem. Esse será o vosso quarto. Há vinte camas e vocês são vinte também. Entrem e durmam bem!
FOME
No começo a gente não conseguia comer o pão, porque parecia feito de serragem. Depois, quando já sentíamos muita fome, chegávamos a esconder o pão embaixo do travesseiro, para ninguém roubar. Nós éramos quatro e a Gisie dividia o pão em quatro partes, para comermos uma porção e deixarmos as outras duas para mais tarde, porque só tinha pão uma vez por dia. A Gisie era a mais velha, ela era como a chefe de nós quatro: Alice, Hajnal, Gisie e eu.
Parece que a necessidade de comer, para quem passa fome, é mais forte do que a própria necessidade de viver. Havia muito poucos casos de suicídio nos campos de concentração, um gesto que não seria tão difícil. Era só atirar-se contra o arame eletrificado. Mas quase ninguém fazia isso; havia o próximo pão.
Viver, assim, reduz-se praticamente a comer; ou melhor, comer é mais do que viver. Depois de terminada a guerra, quando Liwia estava indo para a Suécia, levada pela Cruz Vermelha, todos lhe ofereciam comida. Chocolates, pão, guloseimas, todos jogavam comida para dentro do trem, felizes de poder alimentar aqueles que tinham passado fome. Mesmo no campo, o assunto principal era a comida, e muitos, provavelmente, sobreviveram para lembrar da comida, para conversar sobre a comida, além de simplesmente para comer. Não se comia para viver; vivia-se para comer.
Saber se relacionar com a comida, dividindo-a em várias partes, guardando-a, barganhando com ela, fazendo do pão uma moeda cara, garantia de mais um dia, para então consagrar-se à próxima busca de pão. Essa manutenção ínfima do corpo e de algum resto de astúcia permitia aos prisioneiros, à noite, durante o trabalho ou em algum momento de conversa, falar sobre outras comidas, mais sofisticadas, gesticular sobre elas e fazer de conta que elas existiam. Parece que os sonhos também eram preenchidos com comida. O corpo e a alma – Que alma? O que é a alma de um prisioneiro faminto, de qualquer pessoa faminta? A fome faz pensar que a alma é simplesmente uma invenção do corpo, para aqueles que estão abastecidos e não precisam pensar em comida – de uma pessoa com fome são uma demanda permanente por comida. Como se os humanos se tornassem parasitas, vermes enlouquecidos, girando desnecessariamente num vácuo, desesperados atrás de migalhas, não para viver, mas simplesmente para comê-las. Comer para comer.
Esse processo de animalização reforçava a ideia que os nazistas tinham de que os prisioneiros eram mesmo como animais e isso os fazia sentir ainda mais ódio, como se a animalização justificasse a perseguição. Não seria muito mais digno se matar? Por que se humilhar tanto para conseguir um pedaço de pão duro e velho? As pessoas roubavam pão umas das outras, tiravam pão de cadáveres – por quê?
Muitos israelenses condenam os judeus dos campos de concentração por não terem resistido mais e melhor; por terem se submetido tão brandamente, animalescamente, por uma ração de sopa, por um pedaço de pão. Há uma inversão e uma perversão nessas ideias. Ninguém que não esteja passando ou tenha passado fome tem a mais remota noção do que ela seja e dos efeitos que ela provoca no comportamento humano, por mais ética que a pessoa seja. Ninguém sabe se a vida ou, mais absurdamente ainda, os valores de alguém são mais importantes do que comer, quando não se tem comida. Da parte dos nazistas, sua tática consistia em transformar os efeitos da carência de tudo – a fome, a sede, o frio, a sujeira – em causa; como se tudo estivesse acontecendo porque os judeus fossem originalmente como animais, e não o contrário. Essa é a formação básica do processo de alienação: trocar os efeitos pelas causas.
Nas páginas do diário de Liwia, como nas de vários outros sobreviventes, fala-se muito de comida. Um nabo, uma fatia de maçã, cascas de batata, metade de uma ração de sopa congelada e infectada, um resto de manteiga, tudo é motivo para viver mais um dia, e a vida, nessas condições, é um dia. Ela conta das batatas podres que comeu, dando muita risada. Comíamos batatas podres como se fosse ouro! Nunca comi nada tão gostoso. Sabe, quando a gente tem fome, tudo parece bom!
Talvez fosse por isso que ela transformava várias comidas, durante a nossa infância, em brincadeira. Tinha as salsichas cortadas em pedacinhos e montadas sobre bolinhas de pão preto, espetadas com um palito de dente: eram os soldadinhos. Tinha o frango cozido no centro do prato, cercado de arroz e o molho esbranquiçado nas bordas: era a ilha. Os bolinhos de massa de batata recheados de geleia e, com os restos da massa, umas tirinhas, que eram as cobrinhas. Os ovos com espinafre; a sopa de pêssego e claras de neve; o sorvete de café no canudinho. O goulash, o cholent, que ela ficava preparando durante toda a noite, acordando duas vezes para mexer na panela. Carne, ovos, batata e feijão branco, tudo misturado. Comida de quem não tem o que comer e, misturando tudo, inventa um prato que acaba sendo incorporado à culinária. O bife de contrafilé, passado só na manteiga, sem bater e frito na chapa. Os jantares de sexta-feira, quando vinham a avó e seu irmão, o tio Artur. Jantares caprichados, com entrada, prato principal e sobremesa. Ela nunca foi muito esmerada na cozinha, nem nunca soube fazer muitos pratos, mas dominava perfeitamente aqueles que fazia. E os bolos de Yom Kippur: rocambole de chocolate, com o chocolate respingando quente; rocambole de nozes. Macarrão com geleia no forno. Ela parece ter mais prazer em ver os outros comerem do que em comer propriamente. Come muito pouco e nunca gostou de restaurantes. Sempre quer dividir as porções e não se conforma com os pratos individuais.
Toda a estratégia nazista de liquidação, de extermínio radical, além do assassinato direto, consistia em produzir fome. A fome é a pior privação, a mais bestial de todas, e era ela que sustentava todo o processo paranoico e de extermínio da identidade humana e cultural dos prisioneiros. Não se tratava somente da dificuldade material e logística de enviar todos para as câmaras de gás; era uma etapa necessária do trabalho de diluição do homem no homem. Os campos de concentração são a fome; mais do que tudo é ela a determinante de todos os outros acontecimentos, belos ou horríveis.
PALAVRA
Mãe, se você precisar se lembrar de alguma palavra que diziam no campo, qual seria? Achtung e Zeltappell. Só me lembro dessas duas. Mas você não se lembra de mais nenhuma palavra? Não, não me lembro, não. Só isso que você quer saber?
A filha fica irritada. Como é possível ela não se lembrar de mais nenhuma palavra, se passou onze meses no campo? Nem palavras dos oficiais, nem dos outros prisioneiros, nem as que ela mesma deve ter pensado? Por que não se lembra de palavras, se não existe nada mais importante do que elas? E ela ainda pergunta se é só isso que a filha quer saber. Como se fosse pouco.
Liwia tem vergonha de que o diário que ela escreveu na Suécia seja publicado, porque acha que não tem estilo literário nenhum e sabe que o texto da filha vai ser carregado de estilo. Não há como comparar, a mãe pensa. Como aquele diário tão simples, tão sem palavras, poderá aparecer junto com as impressões da filha, que se preocupa tanto com a forma como as coisas são ditas? Ela não entende que é justamente isso o que a filha procura. Tem vergonha, eventualmente, das palavras de que se lembra. Não são palavras à altura dos pensamentos complexos da filha.
Como será para ela ter uma filha que se ocupa de palavras? Será que isso a faz se sentir mais envergonhada, orgulhosa, medrosa ou será que foram justamente as palavras e as não palavras dela que fizeram a filha escolhê-las para viver? Afinal, a filha está tentando dizer o que ela não quis, não pode dizer. A filha sabe e a mãe autoriza que essas palavras sejam ditas agora, da maneira que a filha quiser. Como ela poderá escolher as palavras das quais a mãe não se lembra? A filha fantasia: se tivesse estado lá, se lembraria de tantas coisas. Outra licença indevida, como tantas que acontecem nesse sequestro e apropriação das palavras da mãe. É preciso roubar um pouco da vida do pai, da mãe, para conseguir sustentar sua sobrevivência. Ter estado onde eles estiveram, em seu lugar, é uma fantasia ridícula, mas inevitável. É um capricho, uma veleidade, mas é também uma redenção. O desejo de salvar um pouco o sofrimento já vivido.
Achtung significa atenção. Zeltappell significa chamada. Atenção, ao menos em português, é um chamado para que alguém seja mais cuidadoso, olhe mais em redor, fique mais concentrado, mas também é o cuidado que se tem para com alguém, um olhar mais demorado, alguma forma de carinho. Mas em alemão, não. Achtung, em alemão e nessas condições, quer dizer: é proibido! Não faça isso! Uma falsa advertência. Um disfarce, como se dizendo: se você fizer isso, será punido. Mas que diferença isso faz, se, mesmo não fazendo aquilo, o prisioneiro também será punido? Para que prestar atenção? Para que advertir? Como é difícil entender a lógica do medo que se instala na linguagem, o porquê da linguagem recrudescer um medo que está além e aquém dela. Como se ela fosse um anteparo: se o soldado não disser Achtung, quem sabe o prisioneiro não poderá se sentir mais tranquilo? Mas, se ele disser, é melhor se precaver.
A filha não entende nada. Como ela reagiria diante de um Achtung que, na verdade, não quer dizer nada? A filha não aguenta palavras que não querem dizer nada. Fica escarafunchando o significado de cada placa de trânsito; apoia-se na etimologia de cada coisa para entendê-la melhor, esmiuçá-la até transformá-la em alguma possibilidade de poesia.
O Zeltappell era a chamada que os nazistas faziam várias vezes por dia, com o pretexto de verificar se todos os números batiam, se os prisioneiros da manhã eram os mesmos da noite, se ninguém havia sumido, fugido, adoecido, dormido, morrido.
Atenção e chamada foram as duas únicas palavras que sobraram na memória dela, de onze meses de terror. Como se o campo tivesse sido uma sala de aula. Atenção para a chamada.
Se a filha precisasse se lembrar de algumas palavras que simbolizam sua mãe, diria “que que fala quê?” – que é o que ela diz quando quer se lembrar de algum assunto que esqueceu. É sua maneira de dizer: “O que eu queria falar?” “Premiera”, que é o seu jeito de dizer “primeira”. “Volan”, que é “volante”. “Que tem novidade?”, no lugar de “Tem alguma novidade?”. No news, good news. “Não tem importância” e “Que que tem?”. Ela transforma várias palavras e perguntas do dia a dia em música. Se alguém diz que quer comer, ela canta: “Comer, comer, é o melhor para poder crescer!” Até hoje ela não aprendeu a falar o xingamento “Vai tomar banho”. Diz assim: “Vai tomando banho.” Sempre que alguém a fechava no trânsito, era isso o que ela dizia, enquanto ainda dirigia: “Vai tomando banho.” É o pior xingamento que ela consegue dirigir a alguém.
Nos últimos anos, ela tem, cada vez mais, ficado em silêncio. Nas reuniões familiares, o que ela mais faz é ficar olhando; um pouco para o vazio, um pouco para as pessoas. Às vezes ela solta um: “Tudo isso saiu de mim!”
No casamento da neta, era inevitável vê-la embaixo da chupá [11] e pensar: ela saiu da guerra e agora está ali, vendo a neta se casar no Brasil. Onde a história foi parar? Como os caminhos foram percorridos? Qual será a sensação de ter estado lá e agora estar aqui? Qual é o percurso estabelecido pela memória que passa por essas duas coisas? A impressão que dá, quando ela queda silenciosa, é que algo assim deve estar passando, mesmo que em silêncio, por sua cabeça. Olhos que veem, mais do que palavras que possam dizer este pequeno absurdo que é essa mudança de destino. Como é possível uma só vida encerrar duas possibilidades tão distintas? Que palavras poderiam dizer isso? Achtung e Zeltappell? Onde foram parar estas palavras, agora? Em que boca elas estão, por quem elas estão sendo ditas, que palavras podemos dizer nós, que palavras ela pode lembrar, tanto quanto aquelas que ela esqueceu?
Quais são as palavras que ela esqueceu?
Um dia, ao telefone, ela, que gosta de ficar imaginando situações, perguntou à filha: “Filha, o que os cegos estão sonhando?” De início, a filha não entendeu. Parecia tratar-se de cegos específicos em uma situação específica e que aqueles cegos estariam sonhando alguma coisa naquele instante. Ela acrescentou: “Sim! O que eles estão sonhando, se não enxergam? Como podem ver imagens nos sonhos?” Então a filha entendeu e se lembrou de que a mãe confunde os usos do presente simples e do presente contínuo. “O que os cegos estão sonhando?”, na verdade, é “O que os cegos sonham?”. Mas, de uma forma inesperada e subitamente bela, aquela frase, em sua suspensão do tempo, em seu deslocamento gramatical e semântico e em seu significado autônomo, como que independente de qualquer lógica narrativa, sintetiza exatamente o estar no mundo da mãe. Como se ela estivesse fincada no presente contínuo, num eterno vir a ser, maravilhada com as possibilidades do mundo e da natureza. Houve a guerra, houve o exílio, o sofrimento, tudo. Mas esse passado, que houve e que não é negado, mas esquecido, se mistura, em sua memória, a uma disposição perene para o presente, sem o domínio perfeito da gramática, mas como uma apropriação deslocada, em que a percepção das coisas importa mais do que as coisas mesmo.
[1] Senta, cidade na província sérvia chamada Vojvodina (pronuncia-se “vóivodina”), às margens do rio Tisa.
[2] Szeged, a terceira maior cidade da Hungria, ao sul do país, próxima à fronteira com a Sérvia.
[3] Baja (pronuncia-se “báia”) é um vilarejo na Hungria, a 150 quilômetros ao sul de Budapeste. Fica ao norte da fronteira entre Hungria, Croácia e Sérvia.
[4] Revista de pavilhão.
[5] Hajnal (pronuncia-se “cainal”) é um nome húngaro.
[6] Nome das Forças Armadas da Alemanha nazista, entre 1935 e 1945. As Waffen-SS eram o braço do esquadrão de proteção do Partido Nazista, que reunia as polícias secreta e política.
[7] Pequena cidade da Dinamarca, na fronteira com a Alemanha.
[8] A data correta seria 2 de junho.
[9] Pronuncia-se “boje pravde” – são as primeiras palavras dos versos do hino nacional da Sérvia: Ó, Deus da justiça.
[10] Alusão ao fato de que o regime monárquico da dinastia dos Karadjordjević foi derrubado por Tito, que proclamou a República e instaurou um regime socialista unipartidário, com o fim da Segunda Guerra Mundial.
[11]Espécie de tenda sob a qual se realiza o casamento judaico.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/nem-vivos-nem-mortos/
Os ponteiros do relógio
Um poeta à espera da polícia
Janeiro de 2020
Por Noemi Jaffe para Revista Piauí

Anna Akhmátova estava com a roupa errada para a temperatura de Moscou e, além disso, também irritada, porque, desajeitado como sempre, seu filho não tinha conseguido encontrá-la na estação. E não era só por isso, mas porque ela preferia que Osip[1] fosse buscá-la e que eles então viessem de lá até nossa casa contando piadas idiotas um para o outro. Sabe por que os judeus têm nariz grande? Porque o ar é de graça. Ou: um rato começa a correr loucamente e outro rato, correndo atrás dele, pergunta, por que você está nessa correria? E aí ele responde que ouviu dizer que os camelos vão ser castrados. Mas você não é um camelo! Está certo, então tente provar isso para a polícia! Ela era apressada enquanto Osip era lento e um tentava convencer o outro de que a sua velocidade era a mais certa.
Mas, naquele dia, o clima não comportava muitas piadas e, enquanto esperávamos por algo que fatalmente iria acontecer, sem entender exatamente o porquê, nem como, nem quando, Osip saiu à procura de alguma coisa para oferecer a Anna. Ela nem fazia questão de nada, mas para Osip era essencial manter a dignidade de um anfitrião. Talvez os costumes nos salvassem de nos transformarmos em bestas e, de qualquer forma, era bom sair atrás de algo, em vez de ficar parado em casa aguardando a polícia. Não tínhamos absolutamente nada na cozinha, nem um pepino ou uma batata, luxos de que não sentíamos mais falta.
Osip voltou carregando um único ovo, que segurava com cuidado e caprichosamente, um bibelô de porcelana. O ovo ficou lá, parado, depois que eu o cozi por alguns minutos na água. Descascado e quieto. Anna não tocou nele, nem eu, nem Osip. Parecia bom somente tê-lo por perto e poder observá-lo, branco como uma bola de neve, naquele calor de Moscou.
Nós três sentados no santuário – o nome que dávamos à nossa cozinha – parados, esperando o inevitável, que poderia vir naquele dia ou no dia seguinte, mas que viria, e o ovo junto, como se esperasse conosco, pactuando da nossa angústia. Nessas horas, nunca sei se o melhor é que a desgraça chegue logo ou que demore. Talvez eu prefira que a polícia chegue depressa, diga a que veio, vasculhe, torture e dê seus motivos falsos ou verdadeiros e depois parta, dando um intervalo mais longo para a próxima investida, apesar de nunca sabermos se, daquela vez, Osip seria levado para sempre ou por alguns dias.
Quem sabe até Anna pudesse ser levada. Mesmo assim, ela ainda vinha à nossa casa. Não era uma forma de masoquismo nem a prova de uma amizade fiel, que arrisca a própria vida para ficar junto de nós. Não. Era só a vontade de estar perto, sem motivo claro. Isso e pronto. O mesmo que faríamos com ela, sem pestanejar, sem pensarmos nas nossas vidas, a coisa menos importante nessa hora. O importante mesmo era que eles não encontrassem o que buscavam: o poema sobre o georgiano imbecil, que, aliás, eles nunca encontrariam, porque Osip nunca o escreveu em lugar nenhum.[2] Mas pode ser que não encontrar fosse ainda pior, porque nesse caso todo o resto se tornaria suspeito, todos os versos que eles jamais entenderiam seriam indícios de contravenção, todas as metáforas obscuras seriam alusões ao regime e nossa casa se transformaria num foco de perseguição.
O certo era que Osip tinha sido denunciado, que já tínhamos percebido a presença de espiões por toda a parte, sempre pessimamente disfarçados. Não sei por que eles ainda se preocupavam em se disfarçar, já que distinguíamos um espia só de olhá-lo de relance. Vizinhos que vinham se oferecer para nos ajudar sem motivo nenhum; porteiros que surgiam da noite para o dia e ficavam lendo o jornal com os olhos vidrados em nós; poetas desconhecidos que apareciam em casa, jurando amor a Osip e que ficavam horas recitando poemas de cor, sem aceitar nenhuma de nossas indiretas para que fossem embora; eletricistas e encanadores que vinham oferecer serviços desnecessários; escritores que vinham verificar as condições de nosso apartamento, como se eles se importassem com isso; pessoas vindo averiguar nosso cupom de ração semanal, para saber se estávamos nos alimentando bem. O comportamento dessa gente era tão artificial que chegávamos a rir entre nós e até para o próprio espião, penalizados do amadorismo e do ridículo a que eram obrigados a se sujeitar. Por que aceitavam esse papel? É claro que havia os convictos, não poucos, que até deviam se oferecer para nos perseguir e que se sentiam realizados e dignos com o cumprimento fiel de sua missão cívica. Mas era perceptível, pelo mal-estar de vários deles, que a incumbência era mais uma obrigação do que outra coisa. Hesitavam, gaguejavam, olhavam para o outro lado, quase pediam para ser descobertos e para não dizermos coisas comprometedoras, para que nós os salvássemos e não o contrário. O que inclusive aconteceu algumas vezes, quando dizíamos coisas irrelevantes, só para que eles tivessem algo a reportar, mas que não nos comprometesse demais, e eles pudessem ficar quites com o governo. Nunca entendi por que aceitavam. Certamente diriam que era pela família, que não queriam correr riscos mais graves e que seriam eles os perseguidos se não aceitassem se disfarçar, mas essa desculpa nunca me convenceu completamente. Não tive filhos, por opção, então não posso dizer o que eu mesma faria se eles fossem ameaçados de morte. Talvez eu também aceitasse me tornar uma espiã. Mas existe certa pressa em ceder à pressão, parece que os espiões esperam que o regime dirija ameaças a suas famílias, para que eles prontamente possam se disfarçar e fazer o mal necessário. Ah, mas e a família, e a casa, a ração, as roupas, o sindicato? Está certo que eu faço parte daqueles que sofreram as perseguições mais duras, mas não entendo a expressão “mal necessário”. Se é mal, não é necessário, e se é necessário, não pode ser mal.
Osip tinha declamado o poema, já tínhamos contado inúmeras vezes, para apenas dez pessoas; uma das coisas mais idiotas e vaidosas que ele fez e que pode ter nos custado a vida. Certamente a dele. Como era possível que uma dessas pessoas tivesse decorado o poema, copiado e mostrado a alguém próximo a Stálin? E quem poderia ter feito isso? Mas aconteceu e agora o dia de virem nos visitar estava próximo. Podíamos sentir no ar espesso que respirávamos, no silêncio e também nos barulhos à nossa volta, nos telefonemas mudos que recebíamos, nas visitas inesperadas que ficavam e ficavam, nos olhares das pessoas na rua. Era insuportável.
Só chegaram depois da meia-noite, na hora em que tínhamos decidido dormir, nós no nosso quartinho e Anna na cozinha, espremida entre o fogareiro e o armário, sobre um amontoado de roupas que servia de colchão. O ovo parado em cima da mesa.
Muitos de uma vez, uniformes ocupando o apartamento, chapéus e botas, casacos até os joelhos, apertando, espremendo, apalpando os bolsos, as costas, as pernas, atrás de armas e bilhetes, documentos e dinheiro. Era a chamada operação noturna, propositalmente escolhida pelos agentes para que as coisas ficassem mais perigosas e eles pudessem se divertir um pouco mais, com algum possível risco de resistência, ao que eles poderiam reagir e, quem sabe, atirar, ferir e até matar. Era o que tinha acontecido com Isaac Babel,[3] já doente e desarmado, mas que mesmo assim não cedera facilmente à polícia e, por isso, tinha levado uma coronhada tão violenta que acabou ficando com um buraco na cabeça até sua morte, alguns anos mais tarde.
E lá estávamos nós, também cansados, apalermados e sem resistir a nada, também diante da chance de sermos agredidos. Anna, para nós, era até uma espécie de álibi, porque eles não poderiam desaparecer com ela ou mesmo feri-la. Ela já era conhecida em todo o país e importante demais para isso.
Eram cinco. Três policiais e duas testemunhas, que ficaram sentadas, olhando, enquanto os três oficiais se distribuíam em tarefas específicas para passar a noite inteira revistando: um no quarto, um na cozinha e outro na sala. Reviraram panelas, livros, estantes, armários, tiraram todas as roupas, rasgaram, esvaziaram caixas, espalharam toda a papelada e as gavetas pelo chão, tiraram tacos do piso e o gesso do teto, arrancaram as molduras das janelas e os batentes das portas, leram cada nome, número e série em cada pedacinho de papel, todos os poemas de cabo a rabo atrás de algo comprometedor, uma palavra ou um nome, sem entenderem nada do que liam, até perguntarem a Osip que absurdo era aquele, para ele responder: realmente, que absurdo é esse? Eu não sei de onde ele tirava a coragem para uma ironia nessa hora, mas era como se fosse algo à sua revelia; criticar era mais forte do que se proteger. O policial não entendeu a piada, graças a Deus. Sei que eu e Anna gelamos juntas, Anna sem conseguir esconder um sorrisinho bobo, nesse pacto irônico que os dois tinham contra o mundo, como se fossem conseguir mudar alguma coisa com isso. Hoje concordo com os dois. É preciso manter alguma irracionalidade, alguma infantilidade quando você está sendo perseguido sem explicação. Não é possível ficar pensando estrategicamente ou manter a seriedade ou o desespero o tempo todo. Tínhamos formas de acreditar que a normalidade era possível e, entre eles dois, espirituosos e sardônicos, o humor fazia o papel de sanidade e até de sobrevivência. Se não mantivessem o riso diante do absurdo, cederiam a ele e perderiam a pouca força que tinham, Osip cardíaco e Anna viúva e com um filho preso.
Sem encontrarem o que buscavam, ficavam tentando encontrar metáforas em tudo: é-me querida a escolha livre/dos meus cuidados, dores e mágoas. O que ele queria dizer com isso e por acaso alguém o estava proibindo de sentir suas próprias dores? Osip suspirava.
Sentados, observávamos o movimento, pensando se levariam Osip com eles, e se, querendo ser mais inteligentes do que eram, tentariam interpretar alguma frase de forma fatal e então iríamos todos para a polícia ou direto para algum pelotão de fuzilamento. Nisso, Anna se lembrou do ovo, ainda inteiro na mesa que eu tinha montado sobre o fogareiro da cozinha. Estendeu-o a Osip, junto com o saleiro, milagrosamente cheio. Osip nem se importou de oferecê-lo de volta, de dizer que ele tinha buscado o ovo para que ela comesse; com cuidado e lento, como se estivesse em algum restaurante, salgou o ovo e pôs-se a comê-lo. Nós acompanhamos aquele momento juntas, praticamente mastigando o ovo com ele, aproveitando cada segundo como se fosse a eternidade, a brancura nos salvando instantaneamente da morte; a lentidão, do horror.
Os documentos entregues, Osip partiu com eles, a manhã clara na janela.
***
Depois da primeira tentativa de suicídio, Osip tinha certeza de que viriam matá-lo a qualquer momento no hospital. Em alguns dias, esse “qualquer momento” deixava de ser indeterminado e ganhava hora certa. O delírio era preciso, tanto quanto a obsessão, tão convincente que chegava até a nos convencer, a mim e a Natasha, a enfermeira em Cherdyn, no hospital onde ele passou quase duas semanas. Ele sabia perfeitamente quem era inofensivo, como os camponeses que circulavam pelos corredores, e quem era suspeito, quem eram os “outros”. A escolha parecia aleatória, mas ele tinha um sistema rígido de seleção, análise e decisão, que não compartilhava conosco. Ele apenas sabia. Os camponeses, tendo sido transportados sem segurança nem cuidados, perambulavam por todos os lados, cheios de escaras abertas e barbas enormes, e Natasha chegou a dizer que daria sua vida por eles, o que imediatamente fez com que Osip e eu passássemos a confiar cegamente nela. Ela me recomendou botas forradas para o inverno e que nós plantássemos algo, porque haveria carência de comida. Piada, já que nem que eu tivesse dinheiro conseguiria as tais das botas e, como nem tínhamos conseguido uma banheira para dormir, pensar em plantar batatas ou repolhos era risível.
Eu não acreditava mais que o delírio de Osip pudesse diminuir, muito menos terminar. No meio de um afastamento tão grande da realidade, é impossível imaginar que um dia as coisas vão voltar a ser como eram antes. Não vou usar a palavra “normal”, porque é a última palavra que eu poderia pronunciar. Mas imaginar que voltaríamos a, não sei, tomar chá, conversar sobre Stravinski ou tentar falar ao telefone com Aleksei e então reclamar do péssimo serviço de telefonia.
Achava que nunca mais ele sairia do hospital ou que nunca mais deixaria de temer qualquer pessoa que não o olhasse de frente e que eu, por isso, precisaria para sempre encontrar novas estratégias para mantê-lo vivo. No fundo, quando você vive ao lado de uma pessoa paranoica, você também é obrigado a sê-lo, porque não é mais possível enxergar as coisas simples, uma roupa, uma panela, uma galinha. Você acaba se tornando ainda mais medroso do que o doente, porque teme pelo temor dele. E é por isso que eu precisava tanto de alguém e essa pessoa era Natasha, que, não sei muito bem por quê, se apiedou de nós dois. Era magra, com o rosto de uma intelectual do século XIX, os óculos caindo no nariz, e parecia que precisava nos ajudar. Me assegurava, assim como outros exilados, que Osip ficaria bem, que seu delírio era esperado para quem passou pela polícia.
O aprendizado era: “Não espere nada e esteja pronta para qualquer coisa.” Assim seria possível manter-me lúcida e ajudar os outros a se manterem lúcidos também. Se posso dizer que aprendi mesmo alguma coisa que tenha valido a pena nesses anos todos, algo que eu possa ensinar para quem vem me visitar, é a não ter esperanças ou, pior ainda, a não alimentar esperanças, uma metáfora estranha que se habituaram a usar, como se a esperança tivesse fome. E ela tem mesmo.
A esperança quer engolir todos e ficam todos vivendo para alimentá-la, até que ela engorde, se torne obesa, exploda e seus cacos se espalhem por aí, para que todos fiquem catando pedacinhos, restos de esperanças engorduradas, e continuem alimentando-os e o processo nunca termine, a esperança nunca se transforme em realidade e só faça esvaziar e desnutrir quem a abastece. Talvez seja essa a razão para terem me dado esse nome ou talvez esse nome seja a razão da minha incompatibilidade com ela.[4] Mas não; foi o excesso dela que me fez detestá-la. Não esperar nada é o que de melhor alguém pode fazer contra qualquer tipo de opressão e só assim fui capaz de sobreviver a tudo.
No nosso caso, a ordem dada pelo Kremlin era “isolem mas preservem”, três palavras que me acompanham até hoje, todos os dias, em muitas situações diferentes.
Eu sempre me perguntava se isso era bom ou ruim. Significava que teríamos privilégios ou que seríamos ainda mais torturados? Eu não sabia. Podia ser uma frase enganadora, que nos manteria agarrados a uma esperança, mas que justamente por isso nos arrastaria por mais tempo, cada vez mais enfraquecidos, até que morrêssemos por conta própria, sem que o Regime tivesse que mexer uma palha para nos exterminar. Como preservar e isolar ao mesmo tempo? Era uma frase contraditória e, justamente por causa dessa ambiguidade, eu achava que ela poderia nos proteger de algo pior. Mas pessoas em condições semelhantes, e Cherdyn era um vilarejo lotado de exilados, me garantiram que ela não significava nada, além de mais uma frase para desviar o foragido de sua condição real.
Num dos delírios mais obstinados de Osip, naquela sua paranoia sistemática, ele nos garantiu que, naquele dia, a polícia viria matá-lo às seis horas da tarde. Ele alternava calma diante da morte e uma tensão enorme, chegando a gritar e gemer, pedindo que eles chegassem logo, porque ele não estava suportando esperar. Nós perguntávamos como ele sabia o horário exato e ele só dizia saber, ele sabia, era certo, eles não se enganavam, gostavam de torturar com pontualidade, não viriam de manhã justamente para deixá-lo esperando. Mas como eles o matariam? Com uma arma, é claro. Mas dentro do hospital, na frente de todos os outros? Ele não sabia tantos detalhes, se o levariam embora ou se seria lá mesmo, mas isso não tinha tanta importância.
Natasha e eu, praticamente sem combinarmos nada, entendemos que o melhor a fazer, perto do fim da tarde, era mudar os ponteiros do relógio. Como Osip não fazia ideia das horas, naquele estado de agitação, mostramos, sorrindo mas bem firmes, que já passava das sete e eles não tinham vindo. Ele nem pestanejou. Não disse que isso era proposital ou que eles estavam atrasados para torturá-lo ainda mais, e nem desconfiou que nós tivéssemos alterado as horas. Não imaginou um conluio entre nós duas. Simplesmente aceitou, se acalmou e disse que tinha se enganado. Isso o ajudou a se curar mais rápido e a se dar conta do delírio.
Essa mentira infantil e necessária criou um vínculo que eu poderia até chamar de amoroso entre nós. Um acerto silencioso, em que nós duas concordávamos que ficar caladas era o melhor que podíamos fazer por ele e uma pela outra.
A enfermeira foi presa e levada para Kolimá, certamente pela ajuda abnegada que prestava a todos. Era uma pessoa rara, visivelmente intelectualizada, mas nem um pouco menos livre por isso, como acontecia com tantos intelectuais que conheci, que se desculpavam de sua inação medrosa com sua erudição e alto conhecimento de filosofia. No final, seu destino foi ainda pior do que o nosso, pois tudo o que ela fazia era ajudar os perseguidos, sem ter feito nada para merecer uma acusação. No campo de refugiados ela contou a história do relógio em detalhes para uma amiga escritora que, depois de vinte anos presa, voltou à sua cidade, onde recebeu um apartamento no mesmo prédio de Anna Akhmátova, onde, por acaso, eu a encontrei e onde ela, ainda por acaso, me contou a história que a enfermeira tinha contado a ela. A da mudança dos ponteiros do relógio. Natasha morreu doente no campo.
Mudamos os ponteiros do relógio e, algum tempo depois, ela morreu. Eu estou viva, fiquei sabendo dessa história por acaso – coincidências, aqui na Rússia, nunca são exatamente coincidências – e estou o tempo todo ainda tentando mudar os ponteiros. Não tenho mais relógios grandes como aquele do hospital, não consigo alterar as máquinas dos relógios de pulso ou de mesa, mas sigo tentando. De alguma forma, essa história ter voltado até mim, ela ter contado tudo a uma companheira de prisão, mostrando o quanto essa brincadeira tinha sido importante para ela, é também um jeito de continuar mudando os ponteiros. As histórias que voltam e vão, agarrando-se sozinhas às pessoas, precisando conti-nuar, circulando pelo mundo em versões diferentes, é isso que garante que o tempo passe ou não passe e que eu continue aqui, contando coisas que não dependem tanto de mim, mas sim eu delas.
Osip se foi e a enfermeira também, mas eu não. Ou o contrário. Eu é que parti e eles continuam aqui, porque minha presença desse lado da morte é ouvir as histórias sobre eles que chegam até mim e então contá-las. Eles ficam, eu desapareço. Não sei quem está e quem não, manipulo o tempo o tempo todo para que eu também não enlouqueça.
Trecho do livro O Que Ela Sussurra, a ser lançado em março pela Companhia das Letras.
[1] Osip Mandelstam, poeta russo que viveu entre 1891 e 1938. Foi amigo da também poeta Anna Akhmátova e marido da escritora Nadezhda Mandelstam, que narra este texto.
[2] Osip Mandelstam criou um poema contra Josef Stálin e o declamou somente para algumas pessoas, sem jamais tê-lo escrito.
[3] Jornalista e escritor russo, que morreu em 1940, aos 45 anos.
[4] Nadezhda, o prenome da narradora, significa “esperança” em russo.
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/os-ponteiros-do-relogio/
Uma mulher comum
8 de julho de 2021
Noemi Jaffe para Quatro Cinco Um

A escritora britânica Virginia Woolf
Diário 1: 1915-1918
Trad. Ana Carolina Mesquita
Existe Virginia Woolf e existe a mitologia em torno dela, o que nos impede a aproximação a uma mulher e escritora real, que, além de viver e escrever grandes cenas, também vivenciou coisas comezinhas e sem encanto. É necessário conhecer os seus aspectos comuns para que se faça uma leitura precisa de sua obra, o que deve importar mais do que detalhes mais ou menos apetitosos de sua biografia.
Os diários de Woolf, escritos ao longo de 44 anos, de 1897 — quando ainda era adolescente — até 1941, alguns dias antes de sua morte por suicídio, foram publicados pela primeira vez em 1953, mas de forma editada por seu marido, Leonard. Somente quase trinta anos mais tarde foi realizada uma edição integral do conteúdo desses diários, entre 1977 e 1984, pela esposa do sobrinho de Woolf, a pesquisadora Anne Olivier Bell. No Brasil, apenas agora temos acesso à versão completa do primeiro volume dos diários, de 1915 a 1918, caprichosamente publicada pela editora Nós, com tradução de Ana Carolina Mesquita.
Ler os diários de uma escritora axial para o século 20 lentamente nos apresenta à gênese de sua escritura
Se o que importa para a compreensão da obra de uma autora do estatuto de Woolf é deter-se sobre seus livros, qual o interesse em ler seus diários? Diários em que ela relata seus passeios, o clima, suas idas ao clube ou à cidade, o aluguel de uma casa, os problemas com as criadas e os comentários incessantes sobre os convidados que o casal recebia. Seria para, em meio a essas atividades tão rotineiras, encontrar momentos sublimes, confissões inesperadas, algo que revele os segredos de sua literatura? Se for essa a intenção, o leitor vai se frustrar.
Antes de tudo, ler os diários de uma escritora axial para o século 20 lentamente nos apresenta à gênese de sua escritura. A forma como ela se dedica a descrever as paisagens, por exemplo, com extrema atenção e apuro até poético, em muito antecipa a importância que esse elemento vai adquirir em sua obra posterior. “Há certo ar estrangeiro numa cidade que se ergue contra o poente & por onde se chega por uma trilha bastante percorrida que atravessa um campo” é uma frase de seu diário do início de 1915. Ouvimos ressoar aí a atmosfera esfumaçada e também ondeante de sua prosa futura, além da combinação muito presente de cidade e natureza. Quanto às inúmeras visitas descritas e, o que é mais curioso, a sua simultânea repulsa e necessidade delas, vê-se a configuração lenta do papel fundamental que os vários “convidados” adquirem em obras como Mrs. Dalloway e Ao farol.
Banalidades
O fato de o diário testemunhar as banalidades e os problemas do início do século 20 nos habitua a uma mulher comum e retira um pouco a capa de mitologia que insiste em recobrir tantas interpretações de obras da autora como antecipações ou justificativas para o seu suicídio. Como se tudo concorresse para isso. Mas não. São jantares com o economista John Maynard Keynes, conversas com Katherine Mansfield, idas ao clube para tomar chá, compras para a casa, o trabalho difícil, mas amoroso com a prensa — a vida de uma dona de casa, esposa, irmã, diretora de um clube de mulheres sufragistas e escritora. Se não é a coisa mais típica do mundo, tampouco difere muito da vida de algumas de suas amigas.
Para leitores mais atentos, a justaposição de duas frases escritas em 15 de janeiro de 1915 remete à ironia finíssima pela qual ela se tornou conhecida, mas também a certo nonsense programático, em que se insinua uma crítica subliminar ao status quo: “Neste exato momento, sinto como se a raça humana não tivesse nenhuma personalidade — como se perseguisse o nada, acreditasse no nada, & combatesse apenas por um monótono senso de dever. Hoje comecei a tratar meu calo, há uma semana precisava fazê-lo”. Como não lembrar, aqui, da frase de Kafka “Alemanha declarou guerra à Rússia. Natação à tarde”, escrita, coincidentemente ou não, em 1914? A Primeira Guerra Mundial, em meio à qual Woolf escreveu esses diários, avisava diariamente sua presença através de aviões, alarmes e bombardeios.
O dia em a autora britânica se disfarçou de príncipe abissínio
Mesmo com dificuldades financeiras, o casal compra o equipamento necessário para a impressão artesanal e própria de livros, formando a editora Hogarth Press. Woolf passa tardes inteiras imprimindo, encadernando (ela mesma encadernou seus diários), colando e encapando exemplares dos livros de Katherine Mansfield — com quem ela mantinha uma relação de admiração e antipatia —, de T. S. Eliot e, finalmente, de livros de sua autoria, cujas boas vendas e críticas estimularam o aumento da produção e a consolidação da editora.
O fato do diário testemunhar as banalidades e os problemas do início do século 20 nos habitua a uma mulher comum e retira um pouco a capa de mitologia que insiste em recobrir tantas interpretações
Outra face saborosa dos diários são as imagens comparativas que a autora utiliza para descrever as pessoas, muitas vezes de forma zombeteira, mas sempre com um humor até inesperado. Mesmo assim, a verve é reconhecível e antecipa tanto seus ensaios como sua habilidade na criação de metáforas: “A semelhança de Gerald com um cachorro pug superalimentado & mimado aumentou imensamente”; “De alguma maneira a aparência dele me lembra uma bota excelente, marrom, extremamente lustrosa e experiente”; e a mais chocante “Considerando a desimportância delas, [as criadas] deviam ser comparadas a moscas no olho, pelo desconforto que são capazes de causar, apesar de tão pequenas”. Sim, Virginia Woolf, como muitas mulheres da época, mesmo as mais progressistas, também dependia das criadas e, como tantas outras, também sabia tratá-las bem ou mal. Mas não se deve julgá-la anacronicamente nem, por isso, deixar de considerar suas tendências feministas que, nesses diários, aparecem no cargo que ela ocupa como diretora de uma guilda de mulheres.
Em tradução precisa, fluente e com a curiosidade de ter mantido os “&” originais, os diários mostram uma mulher dos 33 aos 35 anos, em meio a uma guerra, enfrentando racionamento e carestia, caminhando obsessivamente pelos bosques, jardins e pela cidade, cozinhando e recebendo, imprimindo e escrevendo. Uma mulher que reconhecemos pelo que sabemos de seu futuro, mas que, por seu passado, nos franqueia generosamente as portas para o que virá.
Virginia Woolf observa que guerrear tem sido um hábito dos homens
https://www.quatrocincoum.com.br/br/resenhas/literatura/uma-mulher-comum
Mulher chora a pandemia ao som de Marina Lima
17 de outubro de 2020
Por Noemi Jaffe no caderno Ilustríssima
Foi quando ouviu “de um liquidificador” que ela chorou. Com “beija-flor” e com “terra” não tinha ainda nem sinal de lágrima e foi no tempo entre a Marina Lima cantar um verso e outro que ela chorou a pandemia. O liquidificador era ela e ela tinha engravidado da morte da mãe, da tentativa de suicídio do amigo e das vírgulas que ela era obrigada a colocar nessa frase. Estar grávida era “dar conta” e, no choro, veio conseguir dar conta de tudo e uma vontade de por favor não conseguir dar conta de nada e veio o amor e o sexo feito não feito e as comidas que ela tinha cozinhado e as que ela não tinha, a culpa e a vergonha que ela sentia por sentir culpa. A Marina era a voz tremida de rebeldia serena, o rock opaco “e vou parir um terremoto, uma locomotiva a vapor, um corredor”. Ela chorava os meses, os produtos de limpeza, um verbo mal conjugado, uma rima toante. Ela não gritava, só soluçava meio baixo e as lágrimas iam manchando a blusa dela e o braço do namorado, que a apertava forte. Ela não pensou na letra “esperando um furacão, um fio de cabelo, uma bolha de sabão”. Só agora, enquanto escrevia sobre a música e o choro, foi que ela pensou que “esperar” é estar grávida e ela entendeu que chorou a espera, a espera dela e a de todos, mesmo sem ter sido autorizada a chorar por eles. Ela estava grávida da Marina Lima e do seu próprio soluço, estava grávida de brasil, estava grávida das letras minúsculas e do horror, do leblon e das cotas raciais, das armas e das igrejas, do nome que ela não conseguia pronunciar de tanto ódio, dos amigos desabraçados e das discordâncias com a filha, do instagram e da torta com farinha de grão de bico, do livro que ela tinha lançado e das vontades de fazer sucesso, da derrota e da Anne Carson, dos alunos e do dinheiro. Ela estava grávida, esperando um palhaço, uma acrobata, um leão amestrado que pula dentro de círculos de fogo, uma bailarina que monta sobre um cavalo dócil e que, do nada, dá um coice no diretor do circo. Na música tinha um saxofone fazendo piruetas e era um saxofone desses de fazer chorar, justo antes da Marina cantar “quando a noite contrair e quando o sol dilatar vou dar a luz”. E ela nem lembrou, só agora, escrevendo, que dar a luz pode ser escrito com crase ou sem e que com crase ela entrega a criança à luz e que sem crase ela oferta a própria luz ao mundo. Ela foi a Marina depois que a música acabou e então se levantou da cama enxugando as lágrimas e dançou sem alarde pela casa imitando aquela voz e fez o gesto da guitarra e depois do saxofone e o namorado riu um pouco e ela desceu as escadas até a cozinha e pegou um copo d’água porque fazia muito calor e amanhã, amanhã ela
L de Lá
07 de março de 2011
Por Noemi Jaffe para Revista Serrote
Minha mãe, que é húngara, quando fala comigo ao telefone e diz que vem até minha casa, fala assim: “Estou indo pra lá”. Ela, no Brasil há 60 anos, não conseguiu aprender a especificidade do termo “aí”, o que a faria dizer: “Estou indo aí”. Ai é o aqui do outro: um advérbio muito sofisticado e bem brasileiro, de difícil apreensão por um falante não nativo. Portadores do aqui do eu e do aqui do outro, para nós o “lá” fica reservado para usos e significados que considero, de forma chauvinista, mais amplos e poéticos do que, por exemplo, o there ou o là do francês, que estranhamente também é “aqui”. Ao lá, em português, dispensado de ser o aqui do outro, ficou reservada uma distância que é, e ao mesmo tempo não é, indicativa. Lá pode ser um lugar determinado, mas também é, simultaneamente e sempre, um lugar incerto, todo ou nenhum lugar, uma distância física e imaginária, um lugar solto e sozinho no espaço e também no tempo. Afinal, se lá não fosse também uma indicação de tempo, por que dizemos “até lá”, referindo-nos a uma data? Porque lá é, misteriosamente, um lugar no espaço e no tempo. É lá – para onde as coisas vão e de onde as coisas vêm, e ao dizer “até lá” é como se pudéssemos finalmente, como promessa e como cumprimento, por uma vez, alcançá-las. Quando chega o momento de cumprir o “até lá”, quando aquele lá vira agora e aqui, estranhamente o lá permanece intacto, uma fonte inexaurível que não cessa de se distanciar. Se não fosse assim, por que então, em vez de simplesmente dizer “não sei”, dizemos, muito mais enfaticamente: “Sei lá”? “Sei lá” é não sei e não quero saber. É uma declaração de que meu interesse pelo assunto está lá e de lá não vai sair. Foi para lá; portanto, não vai voltar. O contrário disso, entretanto, é a expressão linda “lá vou eu”, indicando, agora sim, um desejo potente e confiante de, nesse caso, ir para lá. “Lá vou eu” é ofr enentamento de um desafio, é um aqui e agora carregado de lá, portanto mais nobre e temerário. A própria inversão da frase – lá vou eu, em vez de “eu vou lá” – já empresta nobreza e coragem ao sujeito que lá vai. É como um “seja o que Deus quiser” laico, cujo resultado é, no mínimo, engrandecedor. Quem diz e realiza a promessa do “lá vou eu” pode dizer que esteve lá. Gertrude Stein, enriquecendo a pobreza do inglês, pelo menos nesse sentido, diz que não ficaria nos Estados Unidos, porque “there is no there there”. É verdade. O inglês, forçado ao pragmatismo, perdeu o sentido longínquo e incognoscível de um there maciço, inexpugnável. There se tornou simplesmente o contrário de here, deixando de compreender a beleza de uma expressão como there is, para querer dizer somente “há”. Em português, felizmente, além do “há”, também mantivemos o “lá está”. Penso que uma tradução totalmente não literal, mas de alguma forma fiel a “there is no there there”, poderia ser “lá lá lá”, não só porque ela mantém os três “lás”, mas principalmente porque ela diz, de forma bem brasileira, que aqui ainda há lá. Talvez seja porque lá é também uma nota musical. Sempre me lembro da tradução da canção do filme A noviça rebelde, em que ela ensinava aos filhos do sr. Von Trapp as notas musicais. Para o lá, em português, a letra dizia: “Lá é bem longe daqui”. Em inglês é “a note to follow so”. Quero que lá seja para sempre bem longe daqui e que fique mantido naquele lugar que está perfeitamente traduzido na piada dos dois caipiras, que veem pela terceira vez um elefante voando bem alto no céu, em direção ao leste, e então um deles diz: “Acho que o ninho deles é pra lá”.
https://www.revistaserrote.com.br/2011/07/l-de-la-noemi-jaffe/
Caos vibrante
25 de Junho de 2021
Por Noemi Jaffe no site Fronteiras do Pensamento
Considerações sobre meu processo criativo
Sou uma escritora confusa. Meu processo criativo é contínuo – pensamentos, sonhos, associações, leituras, pesquisas – e, ao mesmo tempo, segmentado. Sei que isso parece contraditório, mas tem funcionado ao longo dos últimos anos, produzindo uma literatura que, na minha opinião, reflete bem esse lapso aparente entre fluxo e interrupção.
Faço muitas atividades simultâneas: escrevo literatura, sou professora de escrita, escrevo colunas e críticas e administro um espaço cultural. Não tenho como separar essas atividades e, por isso, elas acabam todas se misturando e dou aulas como se estivesse escrevendo, escrevendo colunas como se estivesse numa reunião e escrevendo livros como se estivesse dando aulas. Encontro semelhanças entre todas essas coisas e uma sempre interfere na outra, seja tematicamente ou na forma como crio. Assim, enquanto preparo uma aula, lendo um trecho de algum autor, vou reparando nas nuances dos recursos narrativos e pensando em como posso usá-los no que estou escrevendo. As conversas com os alunos sempre me abastecem de ideias e uso minha própria escrita para análise em classe, expondo-a às críticas dos escritores que frequentam as oficinas. Procuro escrever as colunas com um viés literário, assim como, cada vez mais, me interesso por eventos concretos para dar sustento à linguagem ficcional. É como uma roda ourobórica que se retroalimenta, justificando que eu não precise parar uma atividade para me dedicar à outra. Além disso tudo, também gosto muito de desenhar e de bordar, coisas que, embora sem competência alguma, vão se fazendo no tempo, que é o de que mais preciso para entender o processo de escrita, também ele feito de contornos e alinhavos.
Por isso considero que minha escrita seja contínua – porque passo os dias, semanas e meses pensando no que vou escrever, como vou escrever e por que quero continuar escrevendo, mesmo que não sente para fazê-lo. Aliás, costumo escrever nas coxas, ou seja, sentada num sofá, com o computador no colo. Vou lendo e tudo o que leio, de alguma forma, me remete ao livro que imagino desenvolver. De repente, estou fazendo uma pesquisa a respeito, anotando, fazendo fichas, começando e terminando caderninhos. Tudo é fonte: músicas, filmes, notícias e, principalmente, outras leituras.
Por outro lado, quando decido que chegou a hora de dar início ao romance, o processo contínuo que vinha de desenrolando se torna espasmódico e interrompido.
Novamente devido às coisas que não param, meu tempo de escrita é curto e eu mesma não tenho o fôlego para me dedicar muito tempo a escrever. Fico, em média, cerca de uma hora por dia nessa atividade e retomo no dia seguinte. Às vezes até menos. Uma de minhas características narrativas é que não gosto de sequências: temporais, de trama, de cronologia. Não consigo escrever e não tenho afinidade com histórias que seguem linearmente e que contam peripécias de um início até um fim. Adoro ler coisas assim nos livros de outros escritores, mas pessoalmente, não é esse o meu forte. Por isso, não suporto nem a visão de expressões do tipo “no dia seguinte”, “muito tempo depois”, “naquela manhã”.
Não sei o que veio antes: se minha dificuldade em ficar várias horas escrevendo me levou a isso ou se isso me levou a não ficar diante do computador essas várias horas. O fato é que esse tempo curto faz com que minha literatura seja, quase sempre, feita de capítulos curtos e fragmentos que, muitas vezes, podem ser lidos até autonomamente. Minha vontade é que o leitor sinta como se nada começasse nem terminasse, mas acontecesse. Que ele faça as conexões temporais que quiser e que ligue os eventos conforme sua interpretação.
Da mesma forma, quando começo um livro, tenho algumas ideias sobre o tema geral, mas quase nada sobre a forma como ele será desdobrado. Aliás, um dos motivos que mais me estimulam a escrever – e acordo de manhã ansiosa por isso – é descobrir o que, mas principalmente como, vou escrever alguma coisa. É no próprio gesto da escrita, nas palavras que uso, que vou me dando conta da história e de seu desenvolvimento. Ah, então quer dizer que a personagem é gaga? Eu não sabia. Ou então, que surpresa que a protagonista tenha resolvido fugir ou que tenha dito aquilo dessa forma. Tenho certeza que a mente em estado de escrita funciona diferente do que em outros estados e que a disposição física e mental para escrever literatura condiciona formulações semânticas e sintáticas totalmente distintas daquelas que costumamos fazer quando falamos.
Escrever é da ordem das coisas arriscadas e se a escrita não for um risco, na minha opinião, é melhor não escrever. É preciso que um escritor se arrisque inteiro no que faz: que não saiba mais do que saiba; que experimente se aventurar em formas que ainda não domina; que pesquise temas ainda estrangeiros à sua história; que fale sobre assuntos capciosos; que se entregue aos seus personagens como se eles pudessem rasgá-lo por dentro e por fora; que seu corpo e sua mente estejam ambos empenhados em buscar encontros inesperados entre si e com a escrita. Sei que essas premissas são bastante idealistas, mas, na prática cotidiana da escrita, esse processo é estranhamente plausível e, de qualquer forma, se a literatura não esbarrar em torno de algum sonho ou ideal, fica difícil entender por que exercê-la. “O poema deve ser como a nódoa no brim: fazer o leitor satisfeito de si dar o desespero”, Manuel Bandeira disse num poema e quem sou eu para negá-lo? Acontece que, para desesperar o leitor satisfeito de si é necessário também sujar-se e nenhum livro que confirme ou reproduza as coisas como elas são vai conseguir desesperar alguém.
Faz parte dessa ideia de risco uma noção que Tim Ingold, antropólogo inglês, desenvolveu ao refletir sobre caminhadas, prática que também é parceira da escrita: o caminhante nômade, segundo ele, é não somente aquele que se coloca como sujeito do que vê, escuta e testemunha ao longo de suas trilhas, mas, igualmente, aquele que sabe se colocar como objeto do que presencia. Ele se permite vagar sem saber para onde, se permite ser surpreendido pelo que vê e se deixa ser visto pelos outros, pessoas e coisas, que também se surpreendem com ele. Na escrita ocorre algo semelhante: o escritor flanador deixa que seus personagens o espantem, não sabe exatamente para onde vai e se permite ser levado pelas palavras, entregando parte de sua atividade ao corpo e não somente à cabeça. Quando é o corpo, ou a mão, a conduzir a escrita, o escritor se torna parte integrante do que escreve, organicamente associado a sua criação. E não penso aqui em nenhuma possessão divina ou inspiratória, de modo algum. Como já disseram tantos outros, a inspiração não passa de uma combinação de fatores externos e internos que, no processo e no trabalho criativos, desperta novas formas e ideias. Penso, na verdade, em um escritor que sabe não ser somente sujeito, mas também objeto das circunstâncias e das palavras. Por paradoxal que possa parecer, não é a autonomia que garante a liberdade da escrita, mas um equilíbrio entre autonomia e heteronomia, em que os outros – as palavras e as coisas – interferem no escritor tanto quanto ele interfere nelas.
Sou uma escritora confusa, como disse. Mas me sinto bem nessa confusão e aprendi a gostar dela, um caos vibrante de que participo, ora no placo e ora na plateia.
Endereço: https://www.fronteiras.com/artigos/caos-vibrante
Polpa
6 de Janeiro de 2021
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Novo, pelo uso que nos habituamos a fazer dele, costuma se opor a velho. Não é por acaso que dizemos, no ano que se inicia, feliz ano novo e adeus ano velho. Nesse adeus da expressão, significamos um subentendido já vai tarde que, aposto ao velho, carrega também este último de conotações negativas.
Mas novo, para ser bom – e o mais impensável, feliz – não precisa se opor a velho. Antes o contrário. Um ano novo que, digamos, seja como uma compota feita com frutas já não tão frescas, seria um bom ano. Colocamos os pêssegos e ameixas mais enrugadinhos e adicionamos um limão bem verde e ácido, novo, compondo assim um sabor agridoce inesperado. Cabe bem em qualquer ano que se inicia.
Ou então, pode-se pensar na ideia de um ninho, feito de gravetos caídos, fios de nylon encontrados ao acaso, restos de algum uso, folhas caídas, tudo coisa velha, com que se monta uma estrutura engenhosa e sempre única, onde vão crescer ovos novos, criando o que se costuma conhecer como feliz ano n’ovo. Aliás, ver o ovo como o viu Clarice Lispector, em O ovo e a galinha e ser capaz de espantar-se com o que já se conhece, é bem o que quero dizer com a novidade que abrindo-se, descascando-se, contém o velho e vice-versa. Tim Ingold (minha mais recente descoberta na antropologia) diferencia, em Estar Vivo, entre a surpresa e o espanto. Diz que a surpresa é matéria de contabilidade, quando algo escapa a um controle previsto. Já o espanto é de outra natureza: é possível espantar-se com uma xícara de café, com o gato que você já conhece e com um ano que se inicia. Não é necessário nada de tão espetacular para que ocorra o espanto, essa matéria-prima em extinção. Modesto Carone já disse, comentando Kafka, que o espantoso é que o espantoso não espanta mais.
É certo, entretanto, que 2020 é um ano, esse sim, que todos querem ver bem longe, à distância. Nunca vivemos um trauma coletivo tão amplo e fundo como esse, aqui no Brasil multiplicado pelo desgoverno que nos conduz ao abismo.
Mas e se, para 2021, pensássemos em um 2020 que fosse possível torcer como uma roupa molhada, espremer numa máquina de fazer suco, para dele extrair um sumo? Tipo polpa de 2020.
E o que haveria nessa polpa? Para mim, todos os filmes de Fellini e de Tarkovsky, nhoque de mandioquinha, carne de panela, a Ilíada, 2666, de Bolaño, Herzog, de Saul Bellow, aulas por zoom com gente de todo o país, minha cachorra e minha gata, poucos almoços feitos em casa com meus filhos e agregados. Para o país, algumas poucas iniciativas de fazer oposição e de se organizar para permitir que a ciência tenha a voz que deve ter, além da percepção do tamanho do mal que foi alçado à nossa liderança.
O mais provável é que muito pouca coisa mude realmente no ano novo que, na verdade, só é novo porque um novo ciclo de translação se inicia. Pandêmica e politicamente, para que haja novidades, será preciso que descasquemos 2021 com delicadeza para encontrarmos, por baixo de sua película, gomos que vêm ao menos desde 2013, com a chance de uns carocinhos nascentes.
Vamos plantá-los com espanto.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Polpa
A Samba
25 de Agosto de 2020
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Tantas coisas, ao longo dessa quarentena (cinquentena, sexagentena, inumeravelena), tem passado para o campo do indizível, que fica difícil saber o que, nesse intervalo, é possível expressar. Mas dentre todas essas coisas intraduzíveis, quero falar da Samba, minha cachorra.
Nos olhos dela me consolo. As pupilas bem no centro, mirando reto nos olhos de quem a olha, acreditam. Sem nenhum predicativo, elas acreditam. Essa confiança sem preposição e sem regência toda noite me prepara para mais um dia de confinamento. Me aproximo para dar boa noite e ela se entrega, virando-se de barriga para cima e oferecendo o corpo para que eu o acaricie. Passo minha mão por tudo e quem é acariciada sou eu: por seu pelo farto e macio, por seu abandono a minha mão. Passo os dedos fortes pelo rosto e ela fecha os olhos com agrado. O rabo, que se abanava, se aquieta e tudo nela e em volta silencia. Aproximo meu rosto do dela e ouço só a respiração, longa e tranquila, com um suspiro pesado no entremeio.
Nenhuma palavra bonita combina quando tento falar sobre ela: disse “entremeio”, mas me arrependi. Para falar dela, é como se só pudesse dizer “água”, “pão” e “casa”. Então digo: Samba água, samba pão, samba casa.
A palavra “amor” foi carregada, historicamente, de conteúdos infindáveis. Preciso esvaziá-la de todos eles para falar da Samba. Preciso da palavra “amor” sem nada dentro, como a flor de João Cabral, que é apenas a palavra flor.
Depois que ela termina de comer a ração, sabe que vou dar dois biscoitos. Ela se achega e fica me olhando, tesa e com o rabo abanando, torcendo a cabeça na direção do armário onde fica a lata de biscoitos. Quando me levanto para pegá-los, ela mal contém a euforia e excitação, eletrizando o corpo inteiro na direção da prenda. Depois que ela pega, leva para sua almofada, sua pequena casa onde tanta coisa acontece. Seu esconderijo, janela, abrigo, consolação, zona de experimentação de comida, canto. Na almofada ela se enrola e fica pequena ou se espalha e parece um bezerro. Quando olho para ela, estendida no chão, às vezes me lembro de uma cadeia de montanhas, outras de um cavalo adormecido. Ela é minha cordilheira.
Também não quero metaforizá-la. Quando digo “ela é minha cordilheira”, não quero me referir a isso como uma representação. Digo que é a cordilheira mesma, cadeia de montanhas me escorando dos medos e nojos. Todo o nojo que sinto pelo governo, pelas calamidades comezinhas, se dilui diante do tamanho dessas pupilas crédulas. Alguma coisa sempre resta além, aquém da minha mentira e da minha verdade, num lugar onde o que se diz é menor do que o que não se diz.
Quando acordo e desço as escadas para a cozinha, ela está no pé da escada, esperando, com as patas cruzadas, como uma “lady”, quando, na verdade, ela está mais para “vagabunda”. Assim que eu chego, ela pula, corre, galopa, abraça e vai na direção da porta, pegar o jornal. Por que conto isso? Todos os cachorros fazem assim. Não sei por que conto. Não sei nada do que conto, nem os porquês, quando se trata dela. Sinto que simplesmente dizer o que ela faz vai fazer com que todos reconheçam sua singularidade. Poderia escrever esse texto somente assim: a Samba come, dorme, pula, gosta de bolinha e de carinho. E fim.
A Samba e minha dificuldade de dizê-la têm sido o reverso da quarentena: ela me lança para o mundo, para o que não posso ser, para o que sou. A Samba está fora da linguagem e agradeço a ela por isso.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/A-Samba
Alma
29 de Junho de 2020 às 15:05
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Às vezes as pessoas me perguntam o que é "escrever com alma". Eu mesma também me faço essa pergunta frequentemente. Isso acontece porque também é frequente que eu leia textos que considero bem escritos, com todos os recursos bem empregados e com um domínio narrativo de grade destreza - e a palavra é mesmo essa - mas aos quais falta, o quê?, verdade, alma, necessidade, organicidade? Difícil nomear o que falta, mas, quando isso acontece, é perceptível que a destreza técnica se sobreponha a esse lastro.
Muitas vezes também me pergunto se essa sensação provém de um idealismo infantil, cuja premissa partiria de uma verdade que só pode se expressar em algum conteúdo mais profundo. Mas não é isso. Mesmo em textos que não se propõem a uma densidade reflexiva, é possível reconhecer essa unidimensionalidade, a ausência desse "quê".
Penso que, em arte, a verdade é umas das coisas mais questionáveis que existem. Se o conceito já é motivo de contradições e indefinições em filosofia, na ética e na política, na arte ele chega a beirar o absurdo, já que a arte, desde a Grécia Antiga, ao menos, sempre projetou sua própria verdade.
Mesmo assim, me arrisco a uma possibilidade de definição. Como a literatura se realiza a partir da integração entre palavra e pensamento, palavra e imagem, palavra e objeto, palavra e ideia, penso que é a coincidência entre o que se diz e como se diz - ideal de todo bom escritor - que perfaz o caminho para a chamada alma ou verdade literária. Se falo sobre a solidão de um personagem, é preciso que, de algum modo, minha linguagem seja, também ela, solitária. Se tematizo um jogo de futebol, também o ritmo, a elocução, a dinâmica da escrita deve ser "futebolística", tensa e polarizada. E se for desejo do autor que haja uma oposição entre o que se diz e como se diz - uma narrativa sobre a solidão escrita de forma eufórica, por exemplo - essa intenção deve estar clara no próprio texto, mesmo que, para isso, o leitor não precise se deter sobre ele. Ao contrário, o leitor percebe essa intencionalidade independentemente de um trabalho analítico ou interpretativo.
Um texto literário pode apresentar grande densidade narrativa, em termos temáticos, mas se ele for expresso em linguagem apenas superficial, sem camadas subjacentes, sem multiplicidade, ele se restringe ao conteúdo e fica quase acadêmico ou didático. Se, por outro lado, ele tiver grande trabalho técnico, o que chamei de destreza narrativa - muitas subordinações, rebuscamento lexical, piruetas linguísticas e descritivas - mas isso não estiver acompanhado de personagens, acontecimentos e cenas que sirvam de motivação para tanto, o texto será apenas circense.
Só é belo o que é necessariamente belo, disse uma vez Wassily Kandinsky, resumindo, com essa frase, toda a dificuldade que muita gente tem para compreender a arte moderna e contemporânea. Se a ideia unívoca de belo não faz mais sentido, como podemos defini-lo? Justamente pela necessidade. Se o leitor ou espectador encontra, no objeto artístico, uma relação de necessidade entre o que se apresenta e a forma como o objeto é apresentado, há beleza, mesmo que o resultado divirja de tudo o que já conheço como belo. Mesmo que seja feio, estranho, inquietante.
Não sei se podemos chamar isso de alma, como disse. Mas acredito que se possa chamar esse processo - tão difícil e, outras vezes, surpreendentemente fácil - de verdade literária.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Alma
B-E-I-J-O
25 de Setembro de 2019
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Não sou uma pessoa conservadora, mas não gosto do uso de "bj", "abç", "vc" e afins. O conservador é o que gosta de conservar e, nesse caso, gosto de pensar em conservar o "beijo", o "abraço" e "você", entre outros. As justificativas que me dão não convencem. Economizar tempo. Economizar o tempo de duas ou três letras? No cômputo geral, com todas as abreviações, a pessoa acaba economizando. É verdade. Pode ser que ao longo do dia inteiro teclando, ela tenha economizado uns cinco ou dez minutos nessa supressão de letras. Não me impressiona.
Costumo carregar de sentido o beijo que mando, o abraço e o você a quem me direciono. Por que reificar o sentido dessas palavras, tornando-as mais fáticas do que já são no uso corrente? Por que não dar a elas, justo elas, o toque de autenticidade de uma mensagem? Pense-se na diferença entre, por exemplo, "beijo", "um beijo", "beijinho", "beijos" e "beijão". São totalmente diferentes e mudam o teor da mensagem inteira, que se transforma instantaneamente por contaminação do tipo de beijo que se envia. O mesmo com "abraço" e suas variações. "Abração" é tão diferente de "abraço" que, por sua vez, não poderia ser mais diferente de "um abraço" ou do tão pouco utilizado "abracinho".
Fora a coincidência, que considero uma das maiores da língua, entre os sons da palavra "beijo" e o ato mesmo de beijar. Pense nos sons: b-e-i-j-o e em como eles beijam a boca de quem o enuncia. Como é bom dizer "beijo" e, com isso, oferecer, à mensagem inteira, uma carga de inutilidade e carinho, ao passo que "bj" só se adequa perfeitamente a toda a impessoalidade e pragmatismo do resto do conteúdo. Digo, por exemplo, "Joana, você esqueceu de comprar batatas no super". Se, ao final, acrescento um "bj", estou contrariada ou simplesmente dei a mensagem e não estou nem aí com a Joana. Só me preocupei com as batatas. Mas se digo "beijo", estou quase dizendo que vou eu mesma comprá-las e que é tão bonito o jeito como Joana as esquece.
Penso que a função fática é uma função, afinal. Estabelecer contato, afinar o canal. Por que tornar a função fática apenas uma reprodução vazia de automatismos cotidianos? Por que não dizer "oi", essa palavra tão linda, dando sentido, ainda que mínimo, ao "oi" que se diz. "Oi, pessoa". "Bom dia, pessoa". "Eu te desejo um bom dia".
"Vc", para mim, chega a ser desrespeitoso. Sou o "você" do outro, uma unidade mínima de estranhamento e alteridade. "Vc" me soa como uma extensão do "eu", uma mesmidão a que não quero me adequar. Passo a ser só mais um dado na praticidade geral das mensagens.
Sei que exagero. Não devia levar tão a sério essas palavras. Ninguém deixa de ser respeitoso ou carinhoso por isso. Deve ser verdade. Mas não quero sucumbir. Quero ter uma reserva mínima de conservadorismo, necessária só para o meu bem estar. Vou continuar usando "beijo", "abraço", "você" e "por que", mesmo quando até meu nome vire "Nm". Gosto das vogais.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/B-E-I-J-O
Compro seu carro, mesmo alienado
25 de Junho de 2018
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
O coração tem que se apresentar diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio de uma taquicardia nas trevas. Só se sente nos ouvidos o próprio coração. Quando este se apresenta todo nu, nem é comunicação, é submissão. Pois nós não fomos feitos senão para o pequeno silêncio, não para o silêncio astral.
Clarice Lispector foi acusada de alienação. Dizem que, como reação a essa etiqueta descabida, ela teria escrito A hora da estrela, explicitamente preocupado com aspectos sociais.
E como ficaria o trecho acima, extraído de Uma aprendizagem ou o livro dos prazeres? Seria, nesse caso, um exemplo de alienação? Afinal, o que teriam a ver o Nada, o próprio coração e o pequeno silêncio com causas políticas?
Em primeiro lugar, a alienação não se relaciona somente à consciência sobre problemas coletivos de ordem social, política ou econômica. A alienação, como o nome - alien - diz, é uma dependência do outro. Alienado (como os carros que ainda não tiveram os débitos quitados) é aquele que não está de posse de algo ou de si mesmo; que se encontra em estado de heteronomia, ou, melhor dizendo, sem autonomia.
E em segundo lugar, a consciência política (e social e histórica e econômica e pública e etc.) não acontece somente pela via do discurso explícito ou mesmo subliminar. Falar sobre lavar a louça e ir ao supermercado, os buracos negros e um amor perdido, o liquidificador quebrado e a fórmula de pi, a queda do filho do vizinho, a novela das 8 e o rabo da minha cachorra, o último biscoito do pacote de cream crackers e o dente que dói, dependendo da forma como se fala, pode ser mais politizado e menos alienado do que falar sobre junho de 2013 ou sobre o golpe de 2016.
Negar-se a usar a língua finalista que serve para comunicar, ou, em outras palavras, que se submete a um objetivo fora de si mesma, já é, por si mesmo, subversivo e, portanto, desalienado. E apresentar-me diante do Nada sozinho e sozinho bater em silêncio uma taquicardia nas trevas é a linguagem e o eu se desnudando à frente do abismo, ousando dizer o que mensagens com conteúdo claro muitas vezes não sabem, mas acabam encobrindo. Quando grito "sou contra as injustiças, quero a volta da democracia, abaixo a ditadura", mascaro, talvez sem consciência, a entrega viva da minha voz e corpo ao desconhecido que nos engole. Entro numa espiral conhecida e já pisada de protestos idênticos, que, por sua repetição, me protegem.
Não adianta querer fazer literatura panfletando minhas opiniões sobre questões complexas do povo. O resultado pode ser não mais do que um manifesto passageiro ou, simplesmente, má literatura. O absurdo, o fantástico, o incompreensível, o psicológico, o subjetivo podem todos ser tão ou mais presentes, reais e agentes quanto o realista, o naturalista, o irônico e o crítico. A alienação e a desalienação não são processos fixos e absolutos, mas constantes. E é na linguagem com corpo e consistência, com experimentação e risco; é na palavra carregada de estranhamento que o leitor se desloca e se desaliena de seu lugar habitual. É ela que o desajusta e o faz perguntar, como em "O espelho", de Guimarães Rosa, "Você chegou a existir?"
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Compro-seu-carro-mesmo-alienado
Mistério desmisterioso
23 de Maio de 2018
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
É engraçado. Quando se pergunta como aprender a tocar violão, a resposta instantânea é: fazendo um curso de violão. O mesmo com desenhar ou aprender a jogar futebol. Mas, para muitos ainda, a resposta para como escrever é: só com inspiração. Como se escrever se localizasse num patamar superior ao das outras artes e práticas; como se a ideia de aprender a escrever diminuísse a própria escrita, ou, o que desconfio mais, o trabalho do escritor. Afinal, se o escritor é movido por inspiração, ou talento, ou dom, aquilo é necessário e incontornável para ele, e inacessível para os outros.
De onde vem a ideia de inspiração? De sopro e respiração. Na tradição bíblica, Deus soprou a vida em Adão, fornecendo-lhe, com isso, sua alma. As musas gregas sopram os poemas aos poetas e aos aedos, que os declamam, convocando, com sua voz e com as palavras, sua própria presença epifânica. A inspiração, nessas acepções, provém da transcendência e ao poeta nada mais cabe do que cumprir-lhe os desígnios. Os poetas românticos, como se sabe, endossaram e reforçaram essas ideias, convenientes para os localizarem em um espaço privilegiado e inalcançável pelos outros mortais: é o gênio, o asceta, o sofredor, aquele que escreve com sangue e lágrimas, cuja vida se indistingue da obra.
Mas por que isso perdurou, depois das vanguardas, da queda do gênio e do herói, da passagem da analogia para a ironia (de acordo com Octavio Paz), da consciência do poder do mercado e da reprodutibilidade de tudo?
Porque a inspiração literária tornou-se um mito e, como todo mito, preservou-se em sua inefabilidade e a escrita, promiscuamente misturada à língua que todos falamos, precisa de um lugar isolado e eleito para discriminar-se de sua "irmã vulgar". Por partilhar com a fala a banalidade do significado, a literatura se arrojou uma dimensão mais elevada.
Discordo de quase tudo que subjaz a esse pensamento. Creio que a escrita literária acontece por meio da linguagem, que, por sua vez, só se realiza na prática. Se é verdadeira a frase de Picasso "se a inspiração quiser vir, que venha, mas vai me encontrar trabalhando" (que, aliás, lembra a de Rosa, "se Deus quiser vir, que venha, mas vai me encontrar armado"), a inspiração não é mais do que aquilo que se aciona na mente e no corpo quando a vontade literária do escritor se põe a escrever, a pesquisar, a experimentar, a revisar. Depois de períodos, mais longos ou mais curtos de trabalho integrado entre circunstâncias (pessoais e coletivas), informações, memória, conhecimento, pensamento, experiências, sensações, sentimentos, ideias, intuição, imaginação, sonhos e outras coisas que nem sabemos definir, criam-se espécies de combustões instantâneas e, aí sim, misteriosas, para surgirem então aquilo que chamamos de momentos inspirados: grandes frases, ótimas ideias estruturais ou formais, pequenos detalhes reveladores, o que faltava ao personagem ou à cena, o instante em que o substantivo acha o adjetivo que lhe faltava, como no conto "O Cônego ou Metafísica do Estilo". Nesses agoras mínimos, de forma algo inexplicável, ocorre a fusão de várias faculdades mentais e quem passa a escrever não é mais a cabeça, mas a mão e o corpo assumem o exercício, suando e tremendo. É a hora do risco, em que autor e texto são o mesmo e quando a vida lá fora e lá dentro fica menor do que escrever. Concordo que aqui ocorre algo inexplicável e é bom que seja assim. Que, na confluência de trabalho, disciplina, desejo e vontade de escrever, haja aquilo que não se domina; talvez um toque de gênio, talvez um imprevisto, o acaso, algo que não esperávamos conhecer. Mas saiu, está lá, não sei porquê e é bom.
Por isso, escrever é algo que pode sim ser aprendido. O mais importante é a pessoa querer escrever, querer aprender e ler muito, de tudo, sem parar. E depois se dispor a trabalhar muito até pingar o suor. Ou correr também não pode ser uma atividade inspirada e inspiradora?
Claro que, como resultado do aprendizado, alguns vão escrever textos melhores e outros nem tanto. O certo, entretanto, é que vão escrever melhor do que sabiam e do que podiam imaginar.
E todos, sem exceção, vão conhecer o mistério desmisterioso da inspiração, esse monstro e anjo que visita apenas quem quer ser visitado.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/Misterio-desmisterioso
O inconformismo e a cesta de legumes
12 de Abril de 2016
Por Noemi Jaffe no Blog Cia. das Letras
Como curar um fanático, livro recentemente reeditado de Amós Oz, tem um título bem-humorado, pois trata o fanatismo como se fosse uma doença passível de cura. Talvez não o seja, porque, na verdade, deve ser um tipo de patologia dessas irremediáveis.
Mas, se houver possibilidade de reversão, Amós Oz propõe, no mínimo, duas receitas: o humor e a curiosidade.
Sua ideia sobre como utilizá-los para curar fanáticos está no livro.
Gostaria de desenvolvê-las, aqui, sob o ponto de vista mais específico da literatura. Claro que nem ousaria chegar a seus pés, mas, ultimamente, nós brasileiros temos tido uma experiência de convivência com o fanatismo que nenhum de nós esperava ter. Então, talvez, esse ponto de vista também possa entrar no rol das prescrições curativas.
Em primeiro lugar, a curiosidade.
Para alguém ser escritor, ou mesmo um leitor, a curiosidade e o inconformismo são imprescindíveis. É preciso perguntar-se: "por que as coisas são ou não são assim?" e, também, "como elas seriam se assim não o fossem?". Ao tentar responder essas perguntas, o que o escritor faz é criar uma nova vida. Um novo objeto vivente: a história que se conta. Ela é ficcional, mas está viva e fala da e na vida, mesmo quando inverossímil, absurda ou surreal.
Em função dessa dinâmica, digamos assim, metabólica e sanguínea, os romances e contos são muito mais concretos do que abstratos, da mesma forma como a vida sensível o é. O leitor de um romance vive o medo, a dor, as preocupações, a dificuldade de pagar a conta de água, o preconceito, a dor de corno, a velhice e a coceira na orelha que sentem os personagens. Ele vê e ouve a paisagem, o confinamento da prisão, a mulher e o homem desejados, os ruídos do caminhão de gás na China, as montanhas andinas e a sujeira de uma rua no Paquistão. E é essa vivência vicária, a vivência da vida do outro, que faz com que o horizonte interno do leitor e do escritor se ampliem, com que ele, efetivamente, conheça concretamente a compaixão, a "co-pathos", a dor do outro, não de forma teórica, mas concreta e viva.
Ora, se concordarmos que o fanatismo é uma prática quase religiosa, derivada da incapacidade de reconhecer o outro ou a perspectiva de quem pensa diferente de si, a literatura seria, ainda que involuntariamente, uma forma, a partir da curiosidade, de "curar" essa obtusidade, esse estreitamento do olhar. Se sinto em minha pele a dor por que passa um negro nos Estados Unidos de década de 50 — se não sei "sobre" a dor, mas sei "a" dor —, tenho mais chance de compreendê-la e de ajudar a combatê-la.
Em segundo lugar, o humor.
Na Grécia Antiga, mais especificamente na Poética, de Aristóteles, a comédia é considerada um gênero inferior à tragédia. A segunda teria a função catártica, purgativa, de expulsar as paixões negativas dos espectadores, por meio do modelo punitivo. Quem desafia o destino é duramente punido. Portanto, aceite o que determinam os deuses. Já à comédia restava um papel de entretenimento, saudável, mas menos elevado.
Entretanto, pode-se também dizer, agora passados mais de dois mil anos, que a comédia tem, em certa medida, um lugar, digamos assim, mais "maduro" em relação à tragédia. É como se na comédia o texto e os personagens compreendessem que o destino de todos, irremediavelmente, é fatal: a morte. Estamos todos condenados ao mesmo pó indistinto e, por isso, podemos rir da solenidade e austeridade da vida e de suas determinações fixas. Abre-se um espaço relativista, uma brecha perspectivista, porque cai por terra a bandeira do absoluto, da totalidade que paira sobre nossas cabeças. É possível rir da vida e da morte.
Rir de si mesmo pode ser um remédio para o fanatismo também. O fanático, segundo Amóz Oz, não ri. Está "tomado" pela seriedade de sua causa. Como ele se leva a sério demais, acaba por não levar o outro em consideração, porque o outro existe somente para ser descartado.
Finalmente, se o fanatismo adota a ideia de que os fins justificam os meios, e se comporta nesse sentido, em que valem quaisquer práticas para justificar uma causa última, a literatura está convencida de que são, ao contrário, os meios que justificam os fins. Ou seja, é pela prática dos caminhos, daquilo que se constrói enquanto se está construindo, que se saberá, se é que se saberá, quais são os fins. O fim é determinado pelo itinerário que se toma, sempre aberto a novas possibilidades. Ou seja, o fim e o meio acabam sempre por coincidir, como na vida, como em cada momento.
Vá até a rua. Olhe cem metros à frente. Quem você vê? É um desconhecido? O que ele está fazendo, sentindo, pensando, desejando? Tente responder essas perguntas. Se ainda assim você considerar que sua "causa" é mais importante do que essas perguntas, parabéns, você está no caminho para se tornar um fanático. Mas, se você considerar que as respostas a essas questões valem mais do que mil totalidades absolutas, que uma cesta de legumes vale mais do que o socialismo ou o capitalismo juntos, parabéns também, talvez você esteja no caminho de escrever um romance.
Endereço: https://www.blogdacompanhia.com.br/conteudos/visualizar/O-inconformismo-e-a-cesta-de-legumes